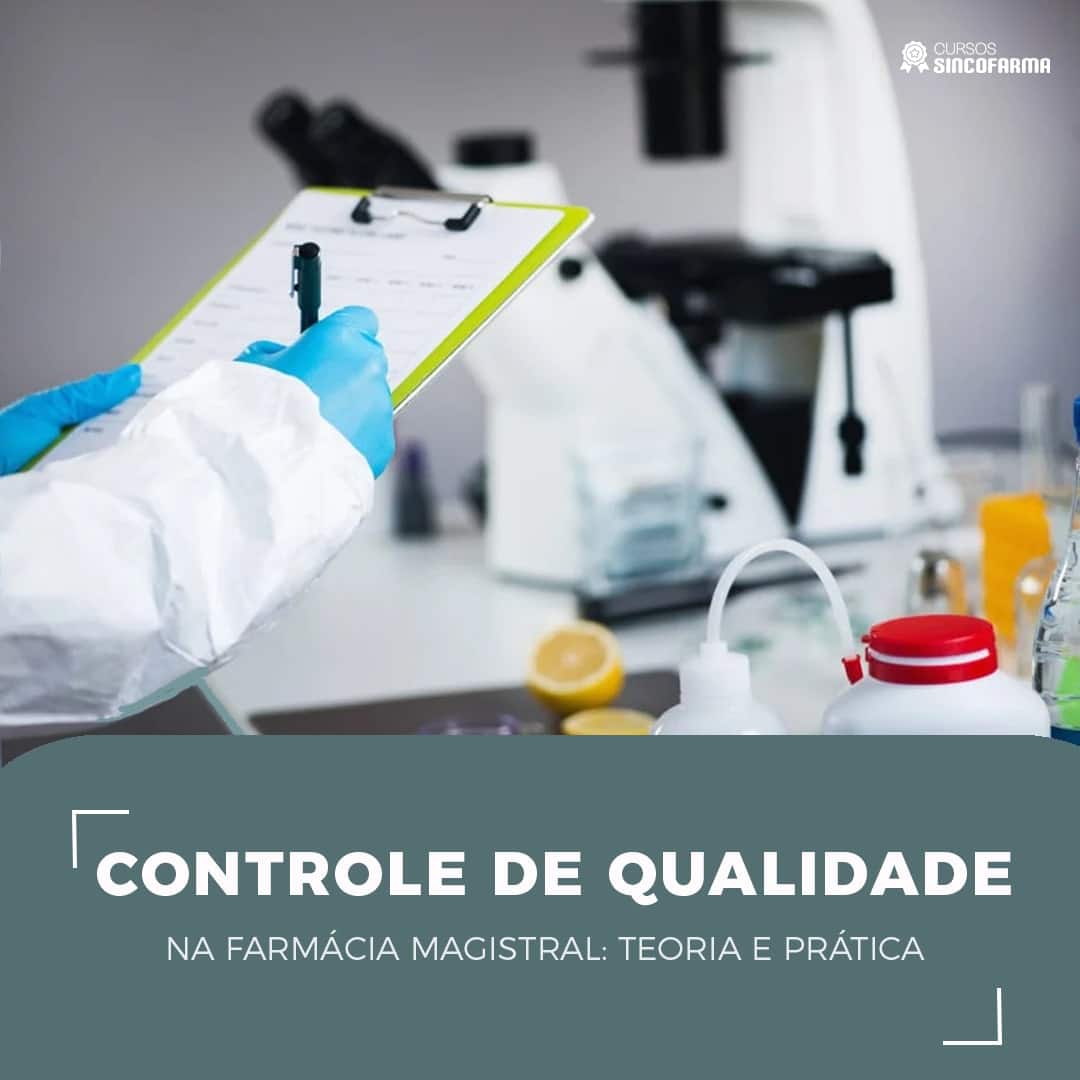“Por ser um profissional da área de saúde, achei que dominava o opioide, mas ele me dominou.” Esse é o relato do mineiro Thomaz Regazi, de 32 anos, cirurgião-dentista que trabalha em São Paulo, sobre sua relação com o fentanil, um fármaco altamente adictivo quando indevidamente utilizado e personagem principal de uma crise sem precedentes de mortes por overdose na América do Norte.
Os opiodes são medicações potentes para tratar dor (analgésicos). O uso remonta a civilizações antigas que recorriam à planta papoula — hoje, a maioria dos opioides utilizados são semissintéticos e sintéticos. Segundo médicos, eles são importantes e devem ser prescritos em casos de dor de escala elevada, como em pacientes com câncer — a principal indicação é nos cuidados paliativos — e em processos cirúrgicos (podem ser necessários tanto antes quanto depois da cirurgia).
Há diferentes tipos, de morfina a fentanil. Este último é o mais potente entre os opioides: supera em 100 vezes a morfina, e em 50 vezes a heroína, por exemplo.
Hoje, Thomaz avança cada dia mais no tratamento da dependência e quis contar sobre os “dois piores anos” de sua vida para que mais pessoas saibam que é possível tratar essa condição. “Estava só esperando a hora da morte. Achava que não tinha jeito. Pensava: ‘Poxa, se é o que a gente tem de mais forte, que é 100 vezes mais potente da morfina, que outra medicação existe [para o tratamento]?’”.
Mas há tratamento, e ele é multifatorial. Ou seja, envolve não somente alternativas farmacológicas, mas exige acompanhamento psiquiátrico e psicológico.
Nos Estados Unidos, overdoses chegaram a causar, em média, quase 300 mortes por dia. A maior parte delas está relacionada a um opioide, segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). A causa dessa epidemia de saúde pública remete a erros cometidos na década de 1990, com marketing agressivo de farmacêuticas, erros na bula e prescrição exagerada e indevida.
Por aqui, o cenário é diferente. Alguns médicos chegam a dizer que existe ainda uma certa opiofobia ou opiofilia, situação em que pacientes que se beneficiariam do uso não recebem a prescrição. Houve diversos episódios de falta desses medicamentos no Brasil.
No entanto, uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), feita em 2015, apontou que mais de 4 milhões de brasileiros já usou opioides indevidamente, isto é, sem a indicação de um médico — embora esses remédios sejam controlados pelas rígidas receitas amarelas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
As internações relacionadas ao uso de opioides no Sistema Único de Saúde (SUS) aumentaram nos últimos anos, conforme dados levantados pelo Ministério de Saúde a pedido do Estadão. No ano de 2023, foram registradas 1.934 hospitalizações. Nos anos anteriores, foram: 1.676 em 2022, 1.242 em 2021, 958 em 2020, e 1.265 em 2019.
Segundo Francisco Inácio Bastos, pesquisador titular do Instituto de Comunicação e Informação em Saúde (Icict/Fiocruz), um dos principais estudiosos da epidemiologia da adicção no Brasil, isso coincide com um aumento de prescrição da metadona em hospitais públicos e privados. Ela é um opioide mais fraco usado no tratamento de substituição da droga mais forte. Para ele, a pandemia de covid-19 e as epidemias de chikungunya nos ajudam a compreender essa expansão.
Ao Estadão, o Ministério da Saúde afirmou que “não há evidências que apontem para risco de epidemia de abuso de opioides no País”. “A definição de epidemia envolve uma incidência acima do normal em um contexto específico e não pode ser determinada apenas por variações nos números de atendimentos nos estabelecimentos de saúde.”
Os especialistas ouvidos pela reportagem concordam que o País está longe daquilo que aconteceu (e ainda acontece) nos Estados Unidos, por exemplo, mas precisa considerar o aumento de internações e prescrições como um sinal de alerta. Apesar de representar um porcentual menor de casos em relação a outras drogas, os médicos destacam que, do ponto de vista de saúde pública, a dependência de opioide apresenta uma carga importante.
“A dependência de opioides ainda não é frequente e talvez não vá ser, dependendo de como o Brasil evoluir, mas ela é relevante na gravidade. Tem gente morrendo”, diz o coordenador do Ambulatório de Opioides do Instituto Perdizes do Hospital das Clínicas da USP (HCFMUSP), André Malbergier.
O Ministério fez um levantamento de dados preliminares de mortes relacionadas ao uso de opioides para o Estadão. Em 2023, foram 14 óbitos. Em 2022 foram 19, 16 em 2021, 17 em 2020, e 13 em 2019.
No cérebro
Para entender como essas substâncias funcionam, é preciso compreender o processo da dor. Um estímulo doloroso, que pode ocorrer nas periferias do corpo ou ser interno, será transformado em um estímulo nervoso.
“Pelo neurônio, vem uma descarga elétrica. Isso vai pra dentro da sua medula espinhal, que fica na coluna. Daí, vai para os centros de dores do seu encéfalo”, diz Felipe Thyrso, presidente da Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo (Saesp) e coordenador da residência em anestesiologia da Santa Casa de Santos. Ali, vai ocorrer a percepção dessa dor.
Doctor has Fentanyl ampoule in hand. Fentanyl is an opioid used as pain medication and for anesthesia. It is also used as a recreational drug mixed with heroin or cocaine. 3D rendering
Dor: quando os opioides, como o fentanil, podem ser necessários? Quais os cuidados ao usar?
Senior citizen couple taking a walk in a park during autumn morning.
Como se tornar um superidoso? Conheça 5 hábitos desse grupo e blinde seu cérebro
Segundo estudo, tabaco gera mais gastos para o Brasil do que arrecadação devido aos impostos
Brasil gastou R$ 150 bilhões com problemas de saúde relacionados ao tabagismo em 2022, mostra estudo
“Nessas vias, você tem várias conexões elétricas entre os neurônios. E essas conexões podem ser moduladas. Eu posso diminuir a força com que esse estímulo está chegando. Dentro dessas conexões, tenho alguns receptores que fazem essa modulação”, descreve Thyrso. No caso dos opioides, o alvo são os receptores opioides, que estão espalhados por todo o sistema nervoso central, que compreende a medula e o encéfalo.
Claudia Palmeira, anentesiologista da Equipe de Controle de Dor do HC, que também atua no ambulatório de opioides, lembra que as áreas do processamento da informação dolorosa se comunicam com áreas de memória e afeto. “Ou seja, a nossa experiência prévia com a dor conta. Descrever a dor é muito subjetivo.”
Aqui, é preciso diferenciar a dor aguda da crônica. A primeira se trata de um mecanismo de proteção, como quando você prende o dedo na janela ou coloca a mão numa panela quente. Agora, quando essa sensação desagradável permanece por mais de três meses, é considerada crônica, de acordo com Claudia. “O processamento da informação dolorosa se torna disfuncional.”
Tudo começou com uma dor
Para Thomaz, tudo começou com uma dor que lhe acompanhava desde a infância. Ele ficou com uma sequela no quadril após uma epifisiólise, um quadro que pode ocorrer na fase de crescimento e é capaz de levar a um deslocamento (escorregamento) da cabeça do fêmur na bacia.
“Não manco, ando normalmente, mas fiquei com uma sequela no meu quadril direito, que me limita. Sentia muita dor.” Por isso, fazia infiltrações com frequência. Trata-se de uma espécie de “injeção na articulação”, composta de corticoides e/ou ácido hialurônico (que compõe o líquido sinovial, responsável por lubrificar a articulação).
O médico avaliou que já era hora de avançar no tratamento e sugeriu que parte do quadril fosse substituída, uma cirurgia chamada de artroplastia. Com altos índices de satisfação e baixa taxa de complicações, essa cirurgia já foi considerada o “procedimento do século XX”.
Embora saiba que é um procedimento relativamente simples, Thomaz não queria realizá-lo naquele momento. Aos 29 anos, sabia que poderia ser necessário refazer o procedimento. A prótese não tem um prazo de validade definido, mas também não dura para sempre. Um estudo publicado em 2019 na respeitada revista científica The Lancet, que analisou registros nacionais de substituição articular com mais de 15 anos de seis países, sugeriu que, para 58% dos casos, pode-se esperar que a substituição seja necessária depois de 25 anos. Mas, em média, fala-se em 20 anos.
“Quanto mais eu conseguir postergar, talvez não precise trocar”, pensava Thomaz, que decidiu buscar outra alternativa. “Faço sedação no consultório, então pensei: ‘Se serve para as pessoas, vai servir pra mim.”
Ele estava ciente do alto risco de adicção do uso sem indicação e acompanhamento de um profissional de saúde. “Tenho formação em farmacologia. Achei que conseguia controlar as doses, que conseguia fazer meu próprio desmame se ficasse dependente. Não é assim que funciona.”
Como ele tem uma clínica, comprava fentanil para as sedações, aquele aplicado intravenosamente (com agulha e seringa). “Usei uma ampola, e foi uma coisa mágica. A dor que me limitava, que não me deixava sentar direito para trabalhar, acabou.”
Ele conta que a substância nunca lhe deu um “barato”. Ela não é uma droga alucinógena, mas alguns usuários relatam uma euforia, que, em suma, é uma sensação de agito cerebral.
Profissionais de saúde em risco
De acordo com uma revisão brasileira, publicada na revista científica Brazilian Journal of Development, entre os fatores de risco para dependência, estão: juventude; dor crônica após acidente de carro; múltiplas regiões dolorosas; antecedente de uso de drogas ilícitas; doenças psiquiátrica; uso de medicamento psicotrópico; dependência de tabaco; uso de uma dose maior; uso por maior tempo; e consumo de álcool.
O acesso que profissionais de saúde têm a esses medicamentos também é um fator de risco. De acordo com uma revisão de 2008, publicada na Harvard Review of Psychiatry, embora médicos geralmente cultivem hábitos mais saudáveis e tenham taxas mais baixas de uso de drogas ilícitas do que a população geral, as taxas de uso inadequado de medicamentos prescritos, principalmente benzodiazepínicos (tipo popular de ansiolítico) e opioides, são cinco vezes maiores para eles. “A doença da dependência afeta mais médicos do que qualquer outro distúrbio ou doença”, diz o estudo.

Um trabalho mais recente, publicado em 2023, na Annals of Internal Medicine, comparou as mortes por overdose nos Estados Unidos, de 2008 a 2019, de profissionais da saúde e aqueles que não se encaixavam nesse grupo. Os autores descobriram que o risco era muito maior para enfermeiros, assistentes sociais e outros profissionais de saúde comportamental. Não foi encontrado risco aumentado para médicos. Os resultados foram semelhantes para mortes por overdose relacionada com opiáceos e mortes por overdose não intencional.
O epidemiologista Mark Olfson, da Universidade de Columbia, autor principal da pesquisa, levantou uma série de hipóteses que explicam esses resultados em um comunicado para a imprensa. “Aqueles que prescrevem ou administram medicamentos têm acesso imediato a opioides e outros medicamentos controlados, e também sofrem frequentemente de estresse no trabalho e esgotamento ocupacional. Muitos realizam rotineiramente tarefas fisicamente extenuantes que podem levar a lesões que podem resultar em prescrição de opioides para controlar a dor.”
Os médicos brasileiros também relatam já terem tratado colegas de profissão e área. E, segundo Claudia, muitos carregam culpa. “Cuido para tirar a culpa desses pacientes. O contexto é maior do que você. Não seja pretensioso para se sentir tão culpado diante de uma coisa que é muito maior do que você.”
No consultório
Ao Estadão, o Ministério da Saúde informou que a indicação do uso de opioides é controlada. “São prescritos pelos médicos apenas para tratamentos específicos, como câncer e dores crônicas, e não como medicamentos de rotina.”
Nem todas as dores crônicas têm indicação de uso de opioide, de acordo com Claudia. São exemplos a neuropática, que ocorre quando há lesão de nervos do sistema nervoso central e/ou periférico — pacientes que passam por amputações e diabéticos podem sofrer com ela —, e as dores da fibromialgia (síndrome na qual o paciente relata dor no corpo todo, em especial na musculatura).
“A dor crônica não tem cura, mas tem controle. Esses pacientes precisam ser avaliados por médico com formação adequada em dor”, fala Claudia.
Antes de prescrever esses remédios, os médicos têm como aplicar modelos para avaliar o risco de um paciente desenvolver adicção. Isso não significa que, caso haja risco, não fará a prescrição, mas isso permite traçar estratégias para monitorar melhor o paciente. “Dou a menor dose possível, marco consultas frequentes, conto os remédios junto com o paciente, peço autorização do paciente para ter alguém em sua casa que o ajude a controlar a dose”, explica Malbergier.
As prescrições indevidas ou exageradas, associadas a um marketing agressivo de empresas farmacêuticas e um erro na bula na década de 1990, são apontadas como um dos principais fatores para a epidemia de opioides que se desenhou nos Estados Unidos, e que já teve ao menos quatro grandes ondas.
“O que mais vemos no nosso ambulatório são pessoas que tiveram algum problema de saúde, que envolveu dor, e o médico prescreveu o opioide”, afirma Malbergier, de São Paulo. Segundo ele, a formação médica ainda dá pouca ênfase tanto à dor quanto à dependência.
“A prescrição de um remédio como esse se baseia em uma escala de dor. Você não dá um tiro de canhão para matar uma formiga”, destaca Thyrso. É uma escala que vai de um a 10, relatada pelo paciente.
Ainda assim, muito se baseia no relato da dor pelo paciente. É por isso que, segundo Claudia, o médico precisa também mergulhar no lado subjetivo dessa dor. “Outros aspectos podem estar por trás dessa descrição de dor intensa, como questões emocionais.”
Ela destaca que o estudo da dor é relativamente recente, remete à década de 1980. Isso significa que ainda é necessário mais espaço para falar sobre esse sintoma na formação dos profissionais de saúde, e em congressos.
Médicos relatam inclusive que alguns pacientes – muito provavelmente já em dependência — entram em conflito com aqueles que sugerem outras opções. Em um cenário de pronto-socorro lotado e na ânsia de ajudar aqueles em dor, erros podem acontecer.
De qualquer forma, segundo alguns especialistas, no Brasil ainda há uma certa opiofobia ou opiofilia, ou seja, os médicos relutam em receitar opioides. Isso pode, inclusive, dificultar o acesso àqueles que realmente se beneficiariam deles.
Tolerância
Entre os efeitos do uso crônico de um opioide está a tolerância. Para alcançar o mesmo resultado, doses maiores são exigidas.
“Depois de uma semana de uso, uma ampola já não era mais suficiente. Precisava de duas. E foi aumentando, de duas para três, de três para quatro. Chegou num momento que foi absurdo, saiu do controle”, conta Thomaz.
“Usava uma dose cavalar. Tenho colegas anestesistas, médicos, que nunca viram essa dosagem nem em uma cirurgia cardíaca.” Aumentou também a frequência das aplicações, até um momento no qual fazia de quatro em quatro horas.
Segundo Thyrso, os opioides são um dos piores fármacos para a adicção. “São tão potentes que existem relatos de que o uso único de alguns deles já vicia o paciente para o resto da vida.” Em geral, leva um tempo para que um paciente ultrapasse a linha do abuso — uso acima da dose recomendada — e, depois, da dependência.
Dependência
Os receptores opioides, alvos que ajudam essas substâncias a modularem a dor, também estão e atuam em outras áreas, como no chamado “circuito de recompensa”, segundo Malbergier.
“Dentro do seu cérebro, algumas substâncias produzem outras, que chamamos de neurotransmissores. Eles vão te dar algumas sensações. Para você alcançar aquela sensação de novo, vai precisar de mais neurotransmissores dentro do seu cérebro. Você acaba produzindo regiões no seu cérebro que nunca ficam satisfeitas com a quantidade de neurotransmissores que foram liberados durante o uso da substância”, explica Thyrso.
A dependência química é uma doença neurobiológica crônica associada a aspectos sociais. “A pessoa tem uma incapacidade de escolha em relação à droga”, diz Malbergier. Até pode manter a capacidade de escolhas relativas à profissão, por exemplo, mas não quando o assunto é a droga.
‘Os dois piores anos da minha vida’
A vida de Thomaz mudou completamente durante os cerca de dois anos e meio usando fentanil. A começar por como se vestia. Com cada vez mais hematomas nos braços, camisetas e regatas não eram mais uma opção.
Opioides não são apenas administrados via intravenosa. São encontrados no formato de comprimidos e adesivos, por exemplo.
Mais letárgico, “sonado” e devagar, nas palavras dele, e refém das aplicações, se tornou mais recluso e difícil de conviver. “As coisas tinham que ser no meu tempo.” Para qualquer saída, um item virou essencial: a bolsa com agulhas e seringas.
Ele amava a Festa do Peão em Barretos, mas não tinha mais como frequentar o rodeio. Como passaria pelas revistas? O mesmo impedimento se repetia em parques de diversão e shows.
Até um trânsito intenso era algo impensável. A abstinência era muito forte. “Uma sensação iminente de morte. Sudorese, uma dor de barriga, que se assemelha à sensação de querer evacuar e não conseguir, uma sensação de troca térmica muito grande, do quente pro frio, do frio pro quente. É horrível.”
As crises ocorriam inclusive durante a noite. “Não conseguia ter uma noite de sono. Às vezes, ia dormir às 11 horas da noite, às duas da manhã acordava e ficava até às seis usando fentanil.”
Tudo tinha de ser muito calculado. Deixou de fazer plantões em hospitais. Atendia apenas na clínica dele. “Tecnicamente, trabalhava para sustentar o meu vício.” Nos piores momentos, ele estima um gasto diário de R$ 1 mil na droga.
Quando saia, os constrangimentos eram praticamente inevitáveis. Durante jantares com amigos, por exemplo, precisa se retirar e usar o banheiro para as aplicações, que eram demoradas. “Me ausentava quando estavam pedindo a entrada e voltava quando estavam na sobremesa.” Algumas vezes, eles chegavam a ligar para ele para saber se estava tudo bem. “Era super constrangedor.”
Pessoas mais íntimas sabiam que ele fazia uso da substância. “Eu não escutava muito as pessoas. Falavam: ‘Olha, precisa parar com isso, está te fazendo mal’. Mas, dentro da minha cabeça, não estava.” Para alguns, isso foi demais. Passou por uma separação durante o período.
É o que Claudia chama de dissociação afetiva. “A pessoa não entra em contato com a angústia da realidade.” Isso também ocorre em outras drogas.
Overdose
Thomaz nunca pensou que parar seria uma opção. Isso não significa que ele não tentou parar — e que, quando não dava certo, não sofria. “Às vezes, usava chorando. Estava realmente mal.”
Chegou a passar por dois médicos que, na visão dele, não tinham o conhecimento adequado para ajudá-lo. E acabou não seguindo com os atendimentos.
Ele achava que não tinha solução, que esse seria seu fim. “Esses opioides não te dão um sinal. Por exemplo, usei, usei, usei, comecei a me sentir um pouco mal, vou parar. Não. Usa, usa, usa, PCR, parada cardiorrespiratória, morte.”
“Eu não fazia planos em longo prazo. Nem compras eu parcelava no cartão de crédito, porque não sabia se poderia honrá-las.”
Um efeito colateral dos opioides, incomum à maioria das outras drogas, e que ajuda a explicar essa overdose “silenciosa”, é que eles agem no centro respiratório. De forma simples, a pessoa esquece de respirar, mesmo estando consciente.
“Ele para de respirar e faz uma hipóxia, ou seja, falta oxigênio no cérebro. E pode faltar oxigênio no coração também, e o paciente tem arritmias e parada cardíaca por causa da toxicidade na ventilação”, fala Thyrso.
É assim que, infelizmente, milhares de norte-americanos têm morrido. O país passa pela quarta onda de overdoses de opioides, marcada principalmente pelo comércio ilegal do fentanil. Embora, em 2023, o número de mortes por overdose por lá tenha caído pela primeira vez em cinco anos, ainda está acima dos 100 mil.
Para ter uma ideia da dimensão da crise, em 2022, foram 107 mil óbitos, dos quais 75% envolveram um opioide, segundo o CDC. No país, a fim de mitigar o problema, houve um esforço de disponibilizar uma droga que pode salvar vidas, a naloxona — um antagonista dos opioides, que pode reverter rapidamente a respiração de uma pessoa —, não só para socorristas e agentes de segurança pública, mas até em escolas e bibliotecas.
Overdoses matam 1 americano a cada 7 minutos, em geral com opioides
Pandemia e fentanil fazem EUA bater marca de 100 mil mortes por overdose, diz CDC
Tratamento
No início deste ano, Thomaz fez a compra de novas doses, mas foi avisado que não seria possível recebê-las, pois o alvará da clínica dele havia vencido. Às vésperas de um feriado prolongado, ficou desesperado.
Decidiu que precisava de ajuda médica. Foi ao Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, mesmo temendo ser julgado – afinal, ele também é um profissional de saúde. Foi muito bem acolhido, conta. Precisou ficar internado por cinco dias em unidade de terapia intensiva (UTI), na qual passou por uma “rotação” de opioides mais fracos, o início do processo informalmente chamado de desmame. É o que os médicos chamam de tratamento de substituição — o objetivo é a abstinência total no longo prazo.
Cada caso é um caso, mas, de maneira geral, os médicos preferem internar o paciente com uma dependência mais grave para dar início ao tratamento, mesmo que por um curto período, embora o desmame seja “longo”.
Isso tudo porque a retirada abrupta do opioide pode ser lesiva ao paciente. “Aquelas regiões dos cérebros que estavam acostumados com uma dose alta vão sentir tanta falta e produzir efeitos sistêmicos: sudorese, taquicardia, arritmia… Pode até produzir parada cardíaca em um momento desses”, explica Thyrso.
É a síndrome de abstinência, que, no caso dos opioides, pode ser muito dolorosa. “É muito violenta, com dores, problemas abdominais, dificuldade respiratória, é um inferno, um mal estar terrível”, destaca Bastos.
Três meses depois da internação, Thomaz segue com um tratamento oral com a metadona, mas já no processo para viver sem ela, com atendimento psiquiátrico. Não foi e não é fácil. “Se existe algo próximo ao impossível, é isso.” Mas é possível. “Não tive abstinência em nenhum momento. Tive um atendimento médico excelente. De vez em quando, tinha um calorzinho ou outro, mas a equipe médica remanejou com uma medicação. Estou aqui, eu consegui.”
Esta é a mensagem que ele quer passar para quem talvez enfrente uma situação parecida com a dele: “Achava que estava muito próximo do fim. Mas ainda estou aqui. Talvez esteja, de fato (próximo do fim), mas não vai ser pelo fentanil, vai ser por outra coisa. O fentanil não vai me matar.”
O tratamento para a dependência é multidisciplinar. Além do médico, diz Malbergier, no mínimo, será necessário um psicólogo, um assistente social e um médico de dor. “Muitos desses pacientes começaram a usar opioide com dor. Mesmo aqueles que não tinham, no momento que tira, começa a ter dor, porque é um dos sintomas da abstinência.”
É uma longa jornada, na qual recaídas podem ocorrer. “Recaída não significa fim de tratamento. Significa que o tratamento precisa continuar”, diz Thyrso.
Achava que estava muito próximo do fim, mas o fentanil não vai me matar.
Opioides no Brasil
A epidemia que se desenhou nos Estados Unidos se deu, em primeiro lugar, por um marketing agressivo, erros regulatórios que, por sua vez, geraram prescrições indevidas e exageradas — algo muito bem retratado por séries de TV, como O Império da Dor, da Netflix, e documentários. Por outro lado, também por mercados ilegais de inicialmente heroína – que não ganhou tração no Brasil devido ao valor — e, depois, do fentanil.
“A Pesquisa Nacional sobre Uso de Substâncias de 2015 evidenciou a prevalência não trivial do uso não médico de analgésicos opioides entre uma grande amostra probabilística no Brasil”, escreveu Bastos em report publicado pela revista científica The Lancet Regional Health – Americas, em maio do ano passado. “O exemplo dos EUA deveria, portanto, funcionar como um alerta ao Brasil, sem o consequente pânico.”
De maneira geral, o entendimento é de que os casos de transtornos devido ao uso de opioides (OUD, na sigla em inglês) estão em crescimento no Brasil. Isso, no entanto, talvez não possa ser extrapolado para uma realidade nacional, em um país com grande desigualdade no acesso à saúde — alguns médicos apontam que as capitais são pontos onde esses casos são mais vistos. Os especialistas avaliam que, por ora, o País não enfrenta uma epidemia, mas precisa ficar atento e fortalecer a vigilância.
Isso não significa que os casos existentes sejam pouco relevantes ou representem uma carga menor em termos de saúde pública.
Um estudo da Universidade de São Paulo, publicado na The Lancet Psychiatry, analisou a prevalência e consequências de vários tipos de substâncias adictivas na América do Sul entre 1990 e 2019, com ajuda da base de dados do Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study (GBD). Os autores descobriram que, embora a dependência por opioides seja menos prevalente, sua carga foi mais alta. O ônus desse transtorno na América do Sul aumentou continuamente nos últimos 30 anos, e o Brasil apresenta o maior DALY. Essa é uma sigla em inglês para “anos de vida perdidos ajustados por incapacidade”. De forma simples, cada DALY é igual a um ano de vida saudável perdido.
Por aqui, segundo o estudo, a média é de 82 DALYs para transtorno de uso de opioides a cada 100 mil habitantes. Para cocaína, droga mais prevalente no Brasil, a mesma taxa era de 45.
Para Bastos, o aumento nas internações por opioides — o que afeta diretamente uma estimativa de DALY, precisa ser visto sob duas perspectivas. A primeira é de que os opioides começaram a sair da posição de subutilização nos últimos anos. Por um lado, isso é bom, porque pacientes que precisam têm mais acesso; mas, por outro, a quantidade de tempo usando essas substâncias aumenta o risco de adicção.
Ele cita uma estatística da Coreia do Sul, que exclui pacientes oncológicos (a sobrevida menor desses pacientes pode prejudicar a aferição da dependência). “É uma das melhores coortes do mundo, muito bem feita e extremamente bem acompanhada. Ela prevê que de 8 a 10% das pessoas em tratamento com opioide irão desenvolver a dependência.”
A prescrição de opioides está, de fato, em uma crescente no Brasil. Outro estudo, também com participação de Bastos, mostrou que as vendas dos principais opioides usados no Brasil aumentaram de 1.601.043 prescrições, em 2009, para 9.045.945, em 2015. Um aumento de 465% em 6 anos, conforme a pesquisa publicada no American Journal of Public Health (AJPH), em 2018.
O Estadão pediu novos dados da Anvisa. A agência apresentou balanços de 2021, 2022 e 2023, que mostraram uma prescrição na casa de 20 milhões de unidades vendidas. Esses dados, infelizmente, não são comparáveis com os do estudo anterior. Isso porque se tratam de bases de dados diferentes. Os pesquisadores usaram dados do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC), enquanto os que tivemos acesso são do Sistema de Acompanhamento de Mercado de Medicamentos (SAMMED). Além disso, os compostos analisados não eram os mesmos.
Bastos conta que a série histórica de prescrições da Anvisa, a SNGPC, sofreu uma interrupção a partir de 2021, e isso impossibilita comparações exatas com anos anteriores. “A Anvisa disse que houve mudança de sistema e que o novo não se mostrou compatível com o sistema antigo.” O Estadão confirmou essa informação com a Anvisa. “O que eu te diria é que mudamos de patamar. Nós dobramos esse patamar no pós-covid”, avalia.
Na pandemia, a prescrição de opioides aumentou porque eram muito necessários em sedações e no manejo de pacientes graves. Segundo Bastos, as epidemias e surtos de chikungunya, doença que tem como vetor o Aedes Aegypti, também podem nos ajudar a entender as tendências ascendentes. “A chikungunya de longo prazo dá uma dor articular extremamente intensa. O paciente pode começar com anti-inflamatório e analgésico não-opioide, e passar para opioide.”
“O que acho que aconteceu é que, tanto no caso da chikungunya como no caso do covid, respondemos de uma forma inicialmente adequada a duas emergências de saúde. Mas não estabelecemos, de uma forma global no País, protocolos de saída”, avalia.
Ele se refere ao momento em que o médico retira o opioide do paciente. Em alguns casos, de uso crônico, pode ser necessário fazer uma rotação com tipos mais fracos, para evitar síndromes de abstinência ou até o início de um abuso.
Mercado ilícito
O que traz um certo alívio aos especialistas é analisar que, por ora, as apreensões de opioides, em especial fentanil, no mercado ilícito — o tráfico de drogas — foram esporádicas. Algo que faz avaliarem que o risco de uma epidemia análoga a dos Estados Unidos no curto prazo seja pequeno.
Um relatório do Ministério da Saúde, publicado no ano passado, informa que, no âmbito da Polícia Federal, existem registros de apreensões relevantes de fentanil desde 2009. Bastos aponta que, enquanto profissional da saúde, ainda não viu uma disseminação no formato “hub”. Ou seja, fentanil ilícito chegar a um grande centro e ser distribuído para outras cidades. Para ele, o mesmo tem ocorrido com a cetamina, que ganhou o noticiário nas últimas semanas.
Ketamina ou cetamina: o que é a substância ligada à investigação do caso Djidja Cardoso
Envio pelo correio e baladas: como avança pelo Brasil a ketamina, citada no caso Djidja Cardoso
O relatório da pasta cita duas apreensões no ano passado. Uma na zona leste do município de São Paulo, na qual a polícia encontrou caixas do medicamento Fentanest (citrato de fentanila) e 108 kg de cocaína. E outra no Espírito Santo, na qual foram apreendidos 31 frascos de fentanil.
O fentanil também tem sido encontrado sob outras formas, como selos do tipo LSD, e “misturado” em outras drogas. O paciente chega ao pronto-socorro e relata ter consumido álcool e LSD, mas apresenta sintomas de intoxicação por opioides e os testes toxicológicos confirmam a presença dele no sangue. Esse exemplo é real, foi relatado em 2016 pelo Laboratório de Análises Toxicológicas do Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) de Campinas, que, em 2023, novamente confirmou a presença de fentanil em casos de uso de diferentes substâncias, como “K2″ (termo popular utilizado com frequência para canabinoides sintéticos), LSD e cocaína.
Para os especialistas, tudo isso é sinal de que temos que reforçar nossa vigilância e controle desses medicamentos, sem esquecer que, para alguns pacientes, eles são vitais.
“O crack foi um problema americano (antes de ser brasileiro também), especialmente de regiões muito pobres e entre a população negra, no início da década de 1980. Escutei várias vezes as pessoas dizendo que isso jamais aconteceria no Brasil. Um prognóstico inteiramente equivocado”, lembra Bastos.
“É muito mais fácil prevenir. Depois que a porteira estiver arrombada, é mais difícil colocar o cadeado, porque a vaca já saiu.”