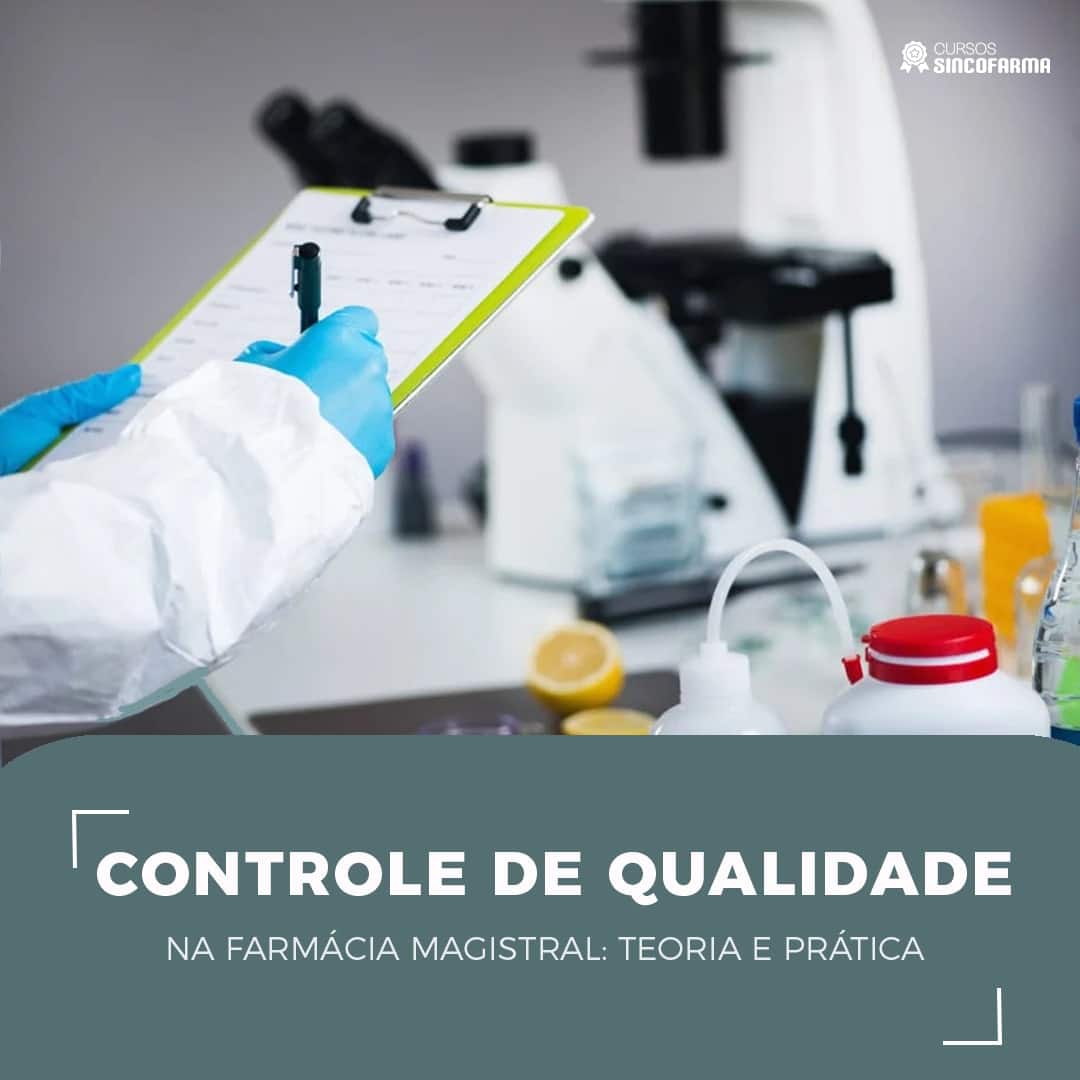Em publicação lançada no Brasil, o americano Jonathan Haidt aponta que uma ‘grande reformulação’ da infância nas últimas décadas provocou uma epidemia de transtornos mentais entre os mais jovens
Uma “superproteção” de crianças e adolescentes contra o mundo físico, com menos brincar livre, e uma “subproteção” das interações digitais levou a uma epidemia de transtornos mentais, defende o psicólogo americano Jonathan Haidt, autor de A Geração Ansiosa: Como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais, best-seller nos Estados Unidos e que acaba de ganhar uma edição em português, lançada na última sexta-feira, 12, pela Companhia das Letras. Diante do cenário, ele caracteriza a geração Z, nascida entre 1995 e 2010, como a “geração ansiosa”.
No livro, ele diz que, nas últimas décadas, os Estados Unidos e outros países ocidentais fizeram duas escolhas contraditórias, ambas erradas. “Decidimos que o mundo real apresentava tantos perigos que as crianças não deviam explorá‑lo sem a supervisão de um adulto, embora os riscos em decorrência de crimes, violência, motoristas bêbados e da maior parte das outras fontes viessem despencando desde os anos 1990. Ao mesmo tempo, imaginar e exigir formas de protegê‑las na internet parecia ser trabalhoso demais, por isso as deixamos vagar livres na terra de ninguém do mundo virtual, repleto de ameaças”, escreveu.
Além de discorrer sobre como a vivência da infância e da adolescência foi reconfigurada, ele apresenta uma série de medidas que podem ser adotadas pelas empresas de tecnologia, governos, escolas e pais. As quatro principais e que ganharam destaque (e polêmicas) são:
- Nada de smartphone antes do nono ano (por volta dos 14 anos): adiar o contato com aparelhos que deem amplo acesso à internet (se eles forem realmente necessários, os responsáveis devem fornecer equipamentos mais básicos);
- Nada de redes sociais antes dos 16 anos;
- Nada de celular na escola;
- Muito mais brincar não supervisionado e independência na infância.
É preciso destacar que muitas dessas recomendações não são consensuais dentro da comunidade científica. Na obra, Haidt destaca que tem “certeza” que estará errado em alguns pontos, mas disse estar disposto a corrigi-los conforme novas evidências surjam.
O psicólogo defende que, independente do caminho que seguirmos, a ação precisa ser coletiva. Quem mandará uma criança ao parque sabendo que os amiguinhos dela estarão em casa em frente a telas? Ele pede que os adultos revejam a forma e a frequência de uso dos smartphones em frente a crianças, em especial das pequenas, que precisam de mais atenção.
Ao passo em que tomou espaço nas prateleiras dos mais lidos nos Estados Unidos, onde foi lançado em março, também enfrentou — e ainda enfrenta — duras críticas da comunidade científica, que aponta que as evidências mostram apenas associações fracas entre piora na saúde mental e as redes sociais, que não permitem estabelecer uma relação causal. Os críticos frisam que o cenário é muito mais complexo do que o apresentado no livro de Haidt, e pedem que os leitores o leiam com cautela (leia mais abaixo).
A grande reconfiguração da infância
Os grandes argumentos do livro de Haidt é que a geração Z, nascida depois de 1995, é a geração ansiosa, e que isso ocorre devido a uma “grande reconfiguração” da infância, que passou de baseada no brincar para baseada no celular, com a superproteção física e a subproteção digital.
Em relação a esse segundo ponto, Haidt aponta que houve modificações importantes a partir de 2010. Segundo ele, naquele momento os telefones se tornam smartphones, com a possibilidade de conexão com a internet o tempo todo, e, mais significativamente em 2012, as redes sociais se tornam menos sobre interações entre pessoas e mais regidas por algoritmos, gratificações e comparações, com ferramentas de curtir e compartilhar, ao mesmo tempo que se populariza a selfie (o autorretrato).
Para ele, essa série de circunstâncias leva a uma epidemia de transtornos mentais sem precedentes entre adolescentes, que não foi seguida na mesma medida por outras faixas etárias. O livro é permeado por gráficos e estatísticas de bancos de dados principalmente norte-americano. Eles mostram uma guinada, a partir de 2010 e 2012, de transtornos mentais, como o transtorno depressivo maior (depressão persistente), que se tornou duas vezes e meia mais presente, segundo a tabulação dele.
Como não queria ficar limitado a estatísticas de autorelato — o que o paciente diz a um pesquisador —, também demonstrou o avanço das autolesões suicidas e não-suicidas nos EUA (mais comum entre as meninas), e dos casos de suicídio (mais comumentre os meninos).
“O número de entradas em pronto‑socorro em decorrência de automutilação quase triplicou em meninas entre 10 e 14 anos entre 2010 e 2020. Considerando adolescentes mais velhas (entre 15 e 19 anos), ele dobrou, e, considerando mulheres com mais de 24 anos, ele diminuiu durante o mesmo período”, escreveu.
Embora o Brasil não tenha dados tão detalhados nesse quesito, o Estadão já mostrou, no ano passado, que casos de suicídio consumado e tentado entre os adolescentes brasileiros têm crescido, e os hospitais têm pacientes cada vez mais novos.
Por que a preocupação com crianças e adolescentes?
Segundo Haidt, crianças e adolescentes não podem ser considerados completamente “livres para tomar as próprias decisões” em relação a coisas como consumir bebida alcoólica e tabagismo, e o mesmo deveria ser considerado para as redes sociais. Isso porque, escreve ele no livro, o córtex pré‑frontal, que é “indispensável para o autocontrole, a recompensa diferida e a resistência à tentação”, não opera totalmente até os “vinte e poucos anos”.
“E pré‑adolescentes estão em um ponto ainda mais vulnerável do desenvolvimento. Com a entrada na puberdade, eles costumam se sentir socialmente inseguros, suscetíveis à pressão dos pares e atraídos com facilidade por qualquer atividade que pareça oferecer validação social.”
Para ele, esse é o período do brincar livre. Haidt defende que evoluímos como “criaturas culturais”, pois “não era o mais rápido ou o mais forte que vencia a corrida da sobrevivência, e sim o mais apto ao aprendizado”. Isso levou a um prolongamento da infância em comparação com os nossos antepassados hominídeos. Esse prolongamento permite um “um longo período de aprendizado do conhecimento acumulado da sociedade” entre a infância e adolescência antes de ser considerado um adulto.
Como ocorre esse aprendizado cultural? Para Haidt, principalmente pelo brincar livre, que significa explorar as brincadeiras sem supervisão de adultos, em um ambiente corpóreo e síncrono. “Ao brincar, jovens mamíferos aprendem as habilidades necessárias para se tornarem adultos bem‑sucedidos, e da forma como os neurônios mais gostam: a partir de atividades que se repetem, contam com feedback indicando se houve sucesso ou fracasso, e são realizadas em um ambiente de baixo risco”, escreveu.
Neste ambiente, o erro não tem um custo elevado, afinal, “todo mundo é desajeitado a princípio”. A partir de erros e acertos, as crianças aprendem juntas e se preparam para a próxima fase de mais complexidade social até a vida adulta.
Ele pondera que um smartphone também “abre mundos de novas experiências”, que incluem “jogos on‑line (que são uma forma de brincar) e relacionamentos de longa distância”. “No entanto, o custo disso é a redução do tipo de experiência que os humanos evoluíram para ter e de que necessitam em abundância para se tornar adultos socialmente funcionais”, escreveu.
Além disso, na visão dele, a vida em plataformas, isso é, dentro das redes sociais, torna qualquer usuário em um “gestor da própria marca”. “Cada ação não é necessariamente tomada ‘por si só’. Na verdade, cada ação pública é, em certo grau, estratégica”, escreveu. Algo muito diferente do conceito de brincar livre.
Os 4 prejuízos fundamentais da infância baseada no celular
Há, segundo Haidt, quatro prejuízos fundamentais da nova infância baseada no celular, que puxam essa epidemia. São eles:
- Privação social: os dados da equipe dele mostram como a porcentagem de estudantes que diziam encontrar os amigos “quase todo dia” caiu vertiginosamente depois de 2009.
- Privação de sono: os dados compilados por eles também mostram que o número de horas dormidas diminuiu, e cita estudos que apontam que muitas vezes são substituídos por tempo de tela.
- Atenção fragmentada: aqui ele argumenta como nosso cérebro não é capaz de fazer tantas tarefas ao mesmo tempo, para isso, alternamos a atenção, com prejuízos maiores ou menores para cada atividade realizada no mesmo período. As notificações constantes adicionam ainda mais dificuldade para algo já difícil.
- Vício: neste ponto, Haidt adentra um tópico bastante sensível e aponta que as grandes empresas de software podem estar se aproveitado de vulnerabilidades desse grupo etário para desenvolver seus produtos altamente lucrativos. Ele cita os documentos vazados no que ficou conhecido como Facebook Papers.
“Os desenvolvedores desses aplicativos usam todos os truques da caixa de ferramentas dos psicólogos para prender os usuários tanto quanto os viciados em caça‑níqueis”, escreveu. “Para deixar claro, a grande maioria dos adolescentes que usam Instagram ou jogam Fortnite não é viciada; ainda assim, seus desejos estão sendo acessados e suas ações, manipuladas.”
Críticas e ponderações de outros cientistas
Desde o lançamento e o sucesso de vendas do livro de Haidt, também veio a onda de críticas e ponderações dentro da comunidade científica. Para eles, a resposta para essa crise é muito mais complexa e abrangente do que smartphones e redes sociais. Isso, no entanto, não significa que eles acreditam que essas tecnologias sejam inócuas à saúde mental dos jovens.
Entre aqueles que pediram cautela está o editor-chefe do respeitado grupo de revistas científicas Science, Holden Thorp, em um editorial nomeado Unsettled science on social media (A ciência instável sobre as redes sociais, em tradução livre). Nele, tornou públicos trechos de conversas que teve com o psicólogo e outros pesquisadores, que discordam de Haidt.
Thorp lembrou de um relatório de um comitê das Academias Nacionais de Ciências, Engenharia e Medicina dos EUA, lançado no final do ano passado, que diz que “as pesquisas disponíveis que vinculam as mídias sociais à saúde mostram pequenos efeitos e associações fracas” em nível populacional.
“Não há evidências suficientes para afirmar que as redes sociais causam mudanças na saúde dos adolescentes em nível populacional, mas a pesquisa mostra que as redes sociais têm o potencial tanto de prejudicar quanto de beneficiar a saúde dos adolescentes”, destacou um comunicado enviado à imprensa.
O relatório aponta que essas correlações não conseguem “distinguir a direção da relação entre os dois”: as redes sociais influenciam o estado de saúde? Ou o estado de saúde influencia o uso das redes?
Leia também: Vendas de medicamentos para depressão e ansiedade crescem 7%
“A maioria das pesquisas também não consegue estabelecer se essa relação é causal ou capturar as diferenças individuais entre os adolescentes”, frisa o comunicado. O próprio documento, embora desenvolvido por grandes nomes da comunidade científica, também sofre críticas. Alguns dizem que ele é desbalanceado, algo que ficaria evidente já no sumário, no qual há um capítulo para os benefícios, mas não para risco, e sim para “a relação com a saúde mental”.
“Várias meta-análises e revisões sistemáticas convergem na mesma mensagem. Uma análise realizada em 72 países não mostra associações consistentes ou mensuráveis entre bem-estar e a disseminação das mídias sociais globalmente. Além disso, descobertas do estudo Adolescent Brain Cognitive Development, o maior estudo de longo prazo sobre desenvolvimento cerebral de adolescentes nos Estados Unidos, não encontraram evidências de mudanças drásticas associadas ao uso de tecnologias digitais”, escreveu a psicóloga Candice Lynn Odgers, em uma crítica publicada na respeitada revista científica Nature.
Para ela, não existem respostas simples. “O surgimento e desenvolvimento de transtornos mentais, como ansiedade e depressão, são impulsionados por um conjunto complexo de fatores genéticos e ambientais.” No livro, Haidt diz que não houve mudanças genéticas significativas para se considerar esse fator como primordial.
Candice lembra que as as taxas de suicídio entre pessoas na maioria das faixas etárias têm aumentado constantemente nos últimos 20 anos nos Estados Unidos. “Pesquisadores citam o acesso a armas, exposição à violência, discriminação estrutural e racismo, sexismo e abuso sexual, a epidemia de opioides, dificuldades econômicas e isolamento social como os principais contribuintes.”
No livro, Haidt refuta a ideia de que a epidemia pudesse ter a ver com a grande recessão econômica iniciada nos Estados Unidos em 2008, pois o desemprego caiu. Candice, porém, acha que ter crescido no “rescaldo” dessa crise pode ser um fator importante, sim. “Nos Estados Unidos, quase uma em cada seis crianças vive abaixo da linha da pobreza enquanto cresce em meio a uma crise de opioides, tiroteios em escolas e crescente agitação devido à discriminação e violência racial e sexual”, escreveu ela.
Outro ponto importante para ela é o número insuficiente de serviços de saúde mental para uma população que cada vez mais fala sobre os sintomas e desafios da saúde mental.
No livro, de fato, Haidt assume que boa parte das evidências são de correlação, ou seja, não apontam causalidade, e há também alguns dados longitudinais, que dependem da observação de um desfecho por um período de tempo maior, algo mais cientificamente relevante e que já permite começar a falar em causalidade — embora ainda falte robustez nesses dados, conforme alguns pesquisadores.
O psicólogo também traz alguns dados experimentais, nos quais é proposta, por exemplo, a redução do uso de telas e redes sociais, e que apontam melhoras na saúde mental dos pacientes. Nesse aspecto, até quem defende o trabalho de Haidt, destaca que estamos engatinhando para comprovar qualquer causalidade.

Embora tenha sido lançado em português apenas na última sexta, o livro de Haidt já permeia discussões em congressos brasileiros. No Congresso Brain 2024, o psiquiatra Christian Kieling, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), destacou que não temos ainda como dizer que a tecnologia intrinsecamente faça mal, no entanto, avalia que a melhor recomendação para o momento seja: não temos evidência para dizer que o uso de mídias sociais é algo seguro para os jovens.
Também no Congresso Brain, o psicólogo canadense Steven Pinker destacou que, nas redes sociais, os adolescentes são expostos a alguns dos “piores aspectos da natureza humana”. “Como insultos, sarcasmo e competição social”. E frisou que muitas vezes a humanidade gosta de culpar as tecnologias por problemas sociais. “São adolescentes reais fazendo a vida de outros (adolescentes) miserável.”
Para a revista americana Fortune, Zach Rausch, que participou da equipe de pesquisa que amparou o livro, disse que está “aberto à ideia de que talvez estejamos um pouco errados sobre o quanto smartphones e mídias sociais pode explicar a mudança na última década”. “Mas certamente acho que estamos em uma base muito forte para dizer que isso levou a um aumento bastante substancial na ansiedade, depressão e automutilação entre os jovens”.
Velocidade da ciência tem sido superada pela das tecnologias
Rausch disse que experimentos reais, que gerariam evidências causais, são complicados devido à velocidade com que essas tecnologias mudam, e podem até ser antiéticos neste caso. “Você não faz, geralmente, experimentos em crianças. E fazer o tipo de experimento que talvez você queira fazer para realmente testar isso é completamente antiético e nunca aconteceria: designar um grupo de crianças para ter um tipo de infância e outro grupo para ter outro.”
Uma questão importante é que a velocidade da ciência tem sido superada pela velocidade da criação e estabelecimento de novas tecnologias. É só pensar na história da plataforma de vídeos curtas chinesa TikTok. Haidt defende que precisamos agir.
“Estamos tentando fazer o melhor com tudo aquilo que sabemos sobre um mundo tecnológico em transformação acelerada que fragmenta nossa atenção e altera nossos relacionamentos. É difícil compreender o que está acontecendo, ou saber como agir. Contudo, precisamos tomar uma atitude. Precisamos experimentar novas políticas e avaliar os resultados”, escreveu.
Por isso, ele pede para que tentemos implementar as quatro principais “reformas” propostas por ele. “O custo é quase zero. E elas funcionariam mesmo sem a ajuda dos legisladores. Se a maioria dos pais e das escolas numa comunidade se comprometesse, acredito que em dois anos veríamos uma melhora substancial na saúde dos adolescentes.”