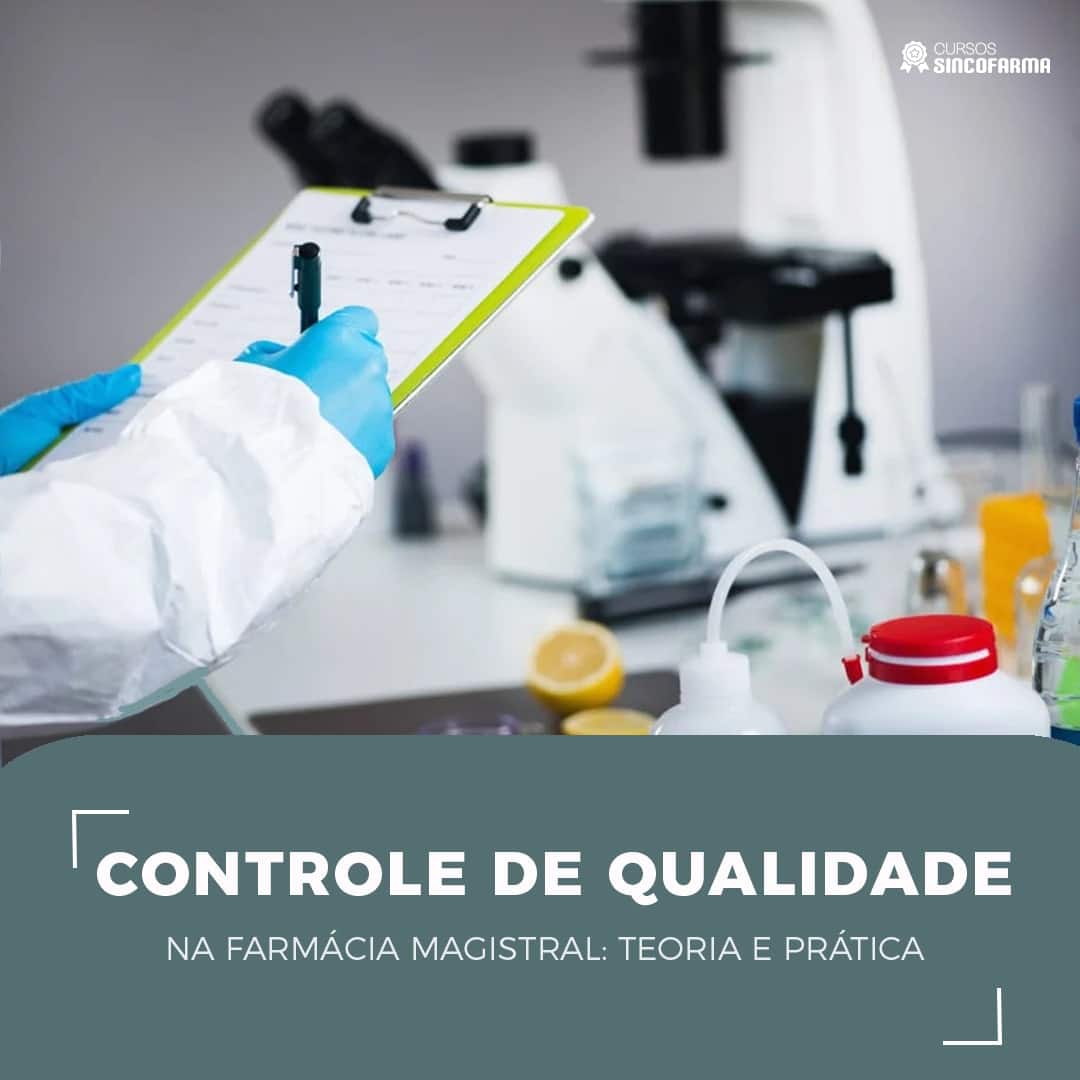2019-06-13 12:00:08
As ameaças ao futuro de crianças que dependem do intenso cuidado e duro sacrifício de mães e avós em Estado com o menor IDH do país – e onde impedir que crianças com microcefalia sejam esquecidas na pauta das prioridades públicas é missão constante.
Na casa da alagoana Ana Lucia Mota de Oliveira, 48 anos, ficar parado é um desafio. Sob o calor forte dos 29 graus do outono em Maceió, é preciso se mexer a todo momento para escapar das picadas de insetos.
“É tanto mosquito que nem fazer uma comida você consegue. No fim da tarde, todo dia, meu marido espirra veneno na casa para tentar diminuir”, diz.
Os insetos estão na sala, na cozinha, no quintal, e mesmo rodeando o rosto da pequena Dayara, 3 anos, sentada em sua cadeira de rodas.
“A gente precisa ficar o tempo todo batendo os pés, e sempre na frente do ventilador. E para dormir, ai de quem dorme fora do mosquiteiro”, conta Ana que, além da neta, mora com a filha Yanara, 20, o filho Yan, 25 e o marido Yuri.
Na rua em que a família mora no bairro de Tabuleiro do Pinto, na periferia de Maceió, as casas não têm esgoto tratado, a rua não tem asfalto e há muito lixo espalhado pelo mato.
“Aqui é tudo zero, bem caótico”. No terreno vizinho à casa de Ana, uma enorme montanha de lixo forma uma mistura pantanosa de restos de comida, entulho e sobras de material de construção.
Todos os membros da família de Ana já pegaram pelo menos uma das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti: zika, dengue e chikungunya. Mas nenhuma delas transformou tanto a história da família como a zika, que em 2016 atingiu Yuri, Yan, e Yanara, justamente quando a jovem estava grávida de dois meses e voltava de uma viagem ao interior do Estado, aos 17 anos de idade.
“Aos cinco meses da gestação fizeram o ultrassom e detectaram a suspeita de microcefalia na bebê. Eu comecei a chorar, entrei em pânico, a minha filha perguntava o que era que os médicos estavam dizendo e eu não tinha coragem de contar. Ela sonhava que a filha dela ia ser linda, e contar aquilo para ela foi muito difícil”, lembra Ana, mãe de Yanara, que acompanhou a filha em todo o pré-natal: a jovem é deficiente auditiva, e coube à mãe mediar e “traduzir” toda a comunicação com os médicos e profissionais de saúde, em libras.
A família do pai, ex-namorado de Yanara, paga um plano de saúde para Dayara, mas não convive com a criança.
Dayara foi uma das 82 crianças que, em 2016, nasceram em Alagoas com a síndrome congênita do zika, alteração no desenvolvimento do feto que causa diversos efeitos neurológicos no recém-nascido. O mais conhecido deles é a microcefalia, condição em que a cabeça do bebê é menor do que a cabeça de crianças com a mesma idade e sexo.
De acordo com a secretaria de Saúde do Estado, existem atualmente 614 crianças com a síndrome sob atendimento em Alagoas desde 2015, quando um surto de zika no Nordeste do Brasil foi seguido de um aumento anormal nos casos de microcefalia entre os recém-nascidos.
A síndrome congênita do zika, registrada em bebês expostos ao vírus ainda no útero, abrange outras manifestações como malformações na cabeça, movimentos involuntários, convulsões, irritabilidade, problemas de deglutição, contraturas de membros, baixa visão e audição.
Aos três anos de idade, dependente dos cuidados em tempo integral da avó, Dayara ainda não consegue sentar sozinha. Não fala, não anda, é cardiopata e está desenvolvendo glaucoma no olho esquerdo. Ana costumava esperar respostas que dessem mais qualidade de vida e oportunidades para a neta, mas reduziu a expectativa.
“O meu objetivo hoje é manter a Dayara viva o maior tempo que eu puder. As outras coisas já são um acréscimo”, diz, desanimada. Uma das causas mais frequentes de morte em crianças com microcefalia é a pneumonia, doença que assombra cada vez que Ana precisa correr com a menina para o hospital.
“Só este ano a Dayara já teve três pneumonias. Tenho muito medo por ela”, diz.
Com Dayara, Ana já viajou no ano passado de Maceió até Porto Alegre atrás de tratamentos mais modernos. Em 2019, passou uma temporada de três meses morando em Campina Grande, na Paraíba, cidade referência na pesquisa sobre a doença.
“Descobri exames que, em três anos, a Dayara nunca tinha feito”. É a avó quem cuida da neta tanto em casa quanto nas consultas e tratamentos – para que a mãe, Yanara, possa cursar a faculdade de Letras – Libras e realizar o sonho de ser professora.
“Dayara está sempre sorrindo, para ela não tem tempo ruim. É o amor da minha vida”, conta a avó, que convive também com o medo do Aedes.
Em 2019, o Estado de Alagoas voltou a registrar 48 casos prováveis de zika, quase o dobro em relação ao ano anterior, segundo boletim divulgado pelo Ministério da Saúde em abril; além disso, este ano o ministério colocou 62 cidades de Alagoas em situação de alerta para risco de surtos de dengue, zika e chikungunya. Mas Ana diz que não recebeu a visita de nenhum representante do poder público que oferecesse ajuda para combater o Aedes, tirar o lixo acumulado na rua ou mesmo distribuir repelentes, para evitar que mais grávidas sejam picadas. “A zika não sai mais na televisão. Ninguém fala mais nada”.
Nem mesmo quando Dayara nasceu, em 2016 – ano em que a Organização Mundial da Saúde declarou que a zika, a microcefalia e a síndrome eram emergência internacional de saúde – a avó sentiu que o bem-estar da neta fosse prioridade da agenda pública. “Dayara só fez exames quando nasceu e ficou 13 dias internada. Depois, não fez mais nenhum. A primeira vez que ela foi fazer um eletrocardiograma para ver se tinha problema do coração foi quando ela tinha um ano e meio”, lembra Ana.
Quando as imagens dos bebês de cabeça pequena nascidos no Nordeste começaram a correr o mundo, as histórias e personagens que se tornaram mais conhecidos eram de famílias da Paraíba e e de Pernambuco – Estados em que o número de casos foi maior.
Em 2015, enquanto Pernambuco e Paraíba registraram, respectivamente, 1.031 e 429 casos suspeitos de microcefalia relacionada ao vírus zika, Alagoas, Estado com o menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil, percentuais baixíssimos de acesso a saneamento básico e renda per capita que corresponde a apenas um quarto da média nacional, teve 114 casos suspeitos de microcefalia, segundo o Ministério da Saúde.
Procurado pela reportagem, o ministério afirma que repassou R$ 1,3 milhão ao Estado de Alagoas entre 2016 e 2018 para a execução das ações previstas no Plano Nacional de Enfrentamento do Aedes e suas consequências. Informa também, por meio de nota, que Alagoas tem 52 serviços de reabilitação, sendo 19 centros especializados; e 31 serviços de reabilitação credenciados pelas prefeituras.
Há também uma rede de 142 unidades do Núcleos de Apoio à Saúde da Família (que prevê visitas à residência para saúde básica), em 99 dos 102 municípios alagoanos, segundo a pasta. Já a secretaria de Saúde estadual diz que tem o papel de articular com os municípios e capacitar as equipes para atender as crianças com a síndrome – o que exige especialização e constante pesquisa, já que trata-se de uma doença ainda pouco conhecida pela ciência. A prefeitura diz que monitora as crianças com a síndrome e as acolhe no grupo Ciranda do Cuidado, que prevê reuniões mensais das crianças e famílias com especialistas para orientar e tirar dúvidas.
Mas o apoio em todas as esferas do poder público às crianças está muito longe do suficiente e é alvo de muitas críticas por parte da Associação Família de Anjos do Estado de Alagoas (Afaeal), criada em 2017 para lutar de maneira mais organizada pelo direito das crianças e que representa 210 famílias afetadas pela síndrome em todo o Estado.
“A maioria das crianças até hoje não recebeu as cadeiras de rodas, e os centros de reabilitação do Estado, que são para receber todas as pessoas com deficiência, e não só as crianças com a síndrome, estão sempre lotados. Por isso que eles alegam que cada criança só pode fazer sessões de 30 minutos [de terapias], em vez de 50”, afirma a presidente da Associação, Alessandra Hora dos Santos. “As crianças que são um pouco mais assistidas são as que conseguem pagar algum plano de saúde. Pelo SUS está uma calamidade”.
Ana, avó de Dayara, foi uma das primeiras mães a participar da associação. Elas se mantêm conectadas por um grupo de WhatsApp, e compartilham o luto a cada notícia de um novo “anjinho”, apelido que elas dão às crianças que morrem por efeitos decorrentes da síndrome.
Crianças com microcefalia podem ter mais dificuldade de deglutição e mais risco de broncoaspiração – quando líquidos ou alimentos são aspirados para as vias aéreas – tornando-se mais vulneráveis a infecções pulmonares.
De 2016 para cá, já faleceram Maria Giulia, Ana Clara, João Miguel, Isabelle e Emerson, este último em maio deste ano – todos por complicações relacionadas à pneumonia. Desde 2015, 29 crianças com a síndrome congênita do zika já morreram em Alagoas, segundo a secretaria de Saúde.
Além da incerteza sobre o futuro da neta, a zika deixou outras dúvidas que continuam sem respostas para a família. Yan, o filho mais velho de Ana, está noivo há cinco anos, mas teme ter filhos por medo que o vírus da zika ainda esteja ativo em seu organismo.
“Ele teve zika muito forte e diz que tem medo porque vê o meu sofrimento, o sofrimento da Yanara”, diz Ana.
Gravidez na juventude e maratona no transporte público
Sentada enquanto aguarda o início da sessão de fisioterapia em uma sala na Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (Unicsal), em Maceió, a dona de casa Maria José Guilherme de Oliveira não sabe dizer quantos anos tem. Quando a reportagem pergunta, ela tira da bolsa a sua carteira de identidade, que mostra que ela nasceu em 1978. Analfabeta aos 41 anos, ela conta que aprendeu a escrever o próprio nome há três, em um curso gratuito em um colégio da cidade.
“Era minha vontade antiga, eu tinha vergonha de carimbar meu dedo [no lugar da assinatura]’, conta. “Queria continuar, mas depois que meu neto nasceu não tenho como ir para a escola, ele é muito apegado comigo”.
Maria trabalhava como faxineira, mas precisou parar com o trabalho para dar conta da rotina de consultas e tratamentos do neto Erik Gabriel, 3 anos, que nasceu com a síndrome congênita do zika. Maria mora em uma casa no conjunto Benevides 2, uma das regiões mais violentas de Maceió, com o marido, dois filhos e um sobrinho.
Hoje eles sobrevivem com o salário mínimo que recebem do Benefício de Prestação Continuada (BPC) a que as crianças que nasceram com a síndrome congênita têm direito desde 2016, e dos R$ 250 que eles recebem do Bolsa Família.
Maria diz que metade do dinheiro do benefício vai para os remédios; uma caixa de anticonvulsivo, por exemplo, custa R$ 300. Ela também precisa comprar fraldas, que pediu na secretaria de saúde do Estado, mas não conseguiu. “Do dinheiro dele eu só pego R$ 100 para ajudar em casa”.
A secretaria estadual diz que fornecer fraldas é responsabilidade da prefeitura. Já a secretaria de saúde do município de Maceió afirma que as fraldas só são gratuitas para crianças a partir dos três anos de idade.
Mas quem vê o alegre e espevitado Erik falando e correndo pelos corredores nem imagina que, poucos meses antes, ele havia passado por uma complexa cirurgia no coração. “O sangue dele não corria direito no corpo. Agora colocaram a veia dele no lugar, a cirurgia foi muito boa”, explica Maria. “A médica disse que ele vai usar uma prótese na perna, mas com o coração está tudo bem”, diz, aliviada.
Depois da cirurgia, o desenvolvimento do menino deu um “salto”, conta a avó: está falante, anda com firmeza, ágil e menos irritadiço do que antes. “Eu imaginava que ele ia ficar diferente do sonho que eu queria, por causa do problema. Mas nem parece”, comemora a avó. “Ele é um guerreiro”.
A mãe de Erik e filha de Maria é Sandra, 18 anos, que tinha só 15 quando engravidou. Mora na mesma rua que Maria, mas casou, tem duas bebês e pouco convive com Erik. Nem ela nem o marido quiseram conversar com a reportagem. “Ela não aceitou muito bem a doença do Erik. Está aceitando melhor agora”, diz Maria.
Pesquisa realizada em 2016 pela Anis – Instituto de Bioética de Brasília, da antropóloga e pesquisadora Débora Diniz, aponta que a maioria das mulheres afetadas pelo zika vírus na gestação em Alagoas é jovem, negra e de baixa escolaridade. O estudo aponta, ainda, que a maioria delas vivenciou a primeira gravidez ainda na adolescência.
A rotina de Erik e Maria é pesada: o menino tem sessões de terapia ocupacional às terças-feiras, fonoaudiologia às quartas e fisioterapia motora às quintas, todas de trinta minutos cada. Para chegar até as consultas, Maria pega dois ônibus, em viagens que levam em média três horas, carregando no colo o menino e a bolsa com roupas, fraldas e comida para o dia. O calor e a lotação deixam Erik agitado, o que torna a viagem mais difícil.
“Ele fica nervoso dentro do ônibus, morde, belisca, grita”, diz Maria. “Fico aperreada para chegar logo em casa e arrumar tudo. Vou dormir meia noite, acordo umas 5h para arrumar a bolsa dele e fazer alguma comida para os outros”, diz a avó, que não reclama dos cuidados com o neto.
“Eu não sabia o que era microcefalia, mas depois que eu entendi, pensei: agora vou cuidar mais do meu neto do que de mim. A minha vida como era antes acabou; agora eu sou só para ele”, diz.
Uma das queixas mais recorrentes das mães em Alagoas é justamente a falta de um transporte mais adequado para levar as crianças, como um carro ou uma van de uma das secretarias municipais ou estaduais. Muitas crianças com a síndrome precisam de cadeiras de rodas ou órteses, equipamentos usados para corrigir deformidades e que dificultam ainda mais a tarefa de carregar a criança.
Mas a secretaria estadual de saúde disse à BBC News Brasil que garantir transporte para as mães e crianças é papel da prefeitura; já a prefeitura de Maceió disse que as mães de crianças com a síndrome têm direito a uma carteirinha que dá direito a usar o ônibus sem pagar tarifa. Diz que alguns centros de reabilitação oferecem carros para famílias de outras cidades, mas “existe uma grande demanda e fila de espera, por este motivo nem todas as crianças são contempladas com este benefício”.
Tarde demais?
Maria divide a criação do neto com a outra avó de Erik, a presidente e fundadora da Afaeal, Alessandra, 40 anos. “Não conseguíamos marcar exames, consultas com o neurologista, era tudo muito difícil”, lamenta.
A liderança na associação tornou Alessandra mais ausente em casa, e as avós, que moram na mesma rua, reorganizaram a divisão de tarefas.
“Tem dia que eu saio de manhã e só volto à noite. Hoje quem cuida ainda mais do Erik é a Maria”, diz Alessandra, articulada e falante, que hoje é uma liderança para as famílias afetadas pela síndrome.
Na opinião dela, faltam tratamentos mais evoluídos e atualizados com os achados científicos sobre a síndrome, a exemplo dos ela já viu em viagens a Campina Grande, na Paraíba. Outra demanda é a de que os tratamentos sejam realizados com mais frequência, todos os dias da semana, como recomendam os médicos e ainda não acontece em Alagoas.
Erik tem uma versão mais leve da síndrome congênita. Quando nasceu, em fevereiro de 2016, teve alta no dia seguinte sem passar por nenhum exame, lembra Alessandra, porque a maternidade estava lotada. Pediram para que eles voltassem dali a uns dias.
“Três dias depois do nascimento a equipe do posto de saúde da família veio nos visitar e viu que estava escrito na carteira de vacinação: suspeita de microcefalia. Mas não haviam dito nada pra gente”, diz.
A confirmação de que havia algo errado com Erik só veio aos dois meses de vida, quando os sintomas começaram a ficar mais evidentes. “Eu não sabia o que era uma convulsão a primeira vez que vi acontecer”, conta Alessandra. “Eu estava trocando a roupa dele na clínica infantil e uma outra mãe disse: olha, o Eric está mudando de cor, está todo roxinho”, diz Alessandra, que correu com o neto nos braços para o hospital.
“Ninguém falava em zika ou microcefalia. Suspeitavam de pneumonia”. Foram quatro meses de internação e, enfim, o diagnóstico correto. “Se eu já amava meu neto, quando soube amei ainda mais”, lembra Alessandra. “Os médicos falavam que poderia ser que o Erik nunca pudesse andar. E hoje ele quer fazer tudo sozinho”, comemora.
A reportagem da BBC News Brasil conversou com dezenas de mães de crianças com microcefalia que nasceram desde 2016 em Maceió, e ouviu muitos relatos de crianças que só foram diagnosticadas muitos meses após o nascimento. Na prática, equivale a dizer que muitas mães saíram do hospital pensando que seus filhos estavam saudáveis, com a orientação de agendar futuros exames, para meses depois descobrirem que eles tinham microcefalia e outros efeitos da síndrome do zika, como ocorreu com Erik Gabriel.
“Perde-se muito quando o bebê é diagnosticado tardiamente”, explica a médica obstetra paraibana Adriana Melo, uma das maiores especialistas no tema e pioneira em identificar que havia relação entre a infecção pelo vírus da zika em grávidas e os casos de microcefalia nos bebês.
A recomendação, diz ela, é que o diagnóstico seja feito ainda durante a gravidez, para que a criança com a síndrome seja acompanhada, examinada e estimulada desde o primeiro dia de vida. “Desde 2015, nas primeiras reuniões com o Ministério da Saúde, já dizíamos que a síndrome do zika é uma doença do feto. O diagnóstico durante a gravidez deveria ser estimulado justamente para que a criança já comece a fisioterapia no primeiro dia de vida”, diz.
Não foi o caso de Gilza Santos da Silva, 33 anos, que só soube que a filha Maria Giulia era portadora da síndrome congênita do zika quando a menina já tinha oito meses de vida.
“Ela tinha convulsões aos cinco meses de idade e eu não sabia o que era. Para mim isso foi o momento mais difícil; eu vendo a minha filha com dificuldade e não sabia o que fazer. Mesmo quando eu ia para uma emergência eles não sabiam o que fazer, porque não tinha o diagnóstico. Não pediam exames e me mandavam de volta pra casa”, recorda.
“Acredito que esses meses sem o diagnóstico prejudicaram muito ela”, lamenta Gilza, que ainda se emociona ao falar da filha, que morreu em maio de 2018, com 1 ano e oito meses de vida, por complicações de uma pneumonia. Gilza, que mora com o marido, motoboy, e duas outras filhas, de 13 e 7 anos, atribui ao descaso do poder público e à precariedade do atendimento a morte da filha.
“Quando ela nasceu a médica suspeitou, mas logo em seguida descartou essa hipótese. Ela atendeu a Maria Giulia em uma clínica depois do parto e ali, na dúvida que ela teve, já tirou, sem exame. Mas Maria Giulia nasceu com 28 centímetros de perímetro cefálico (medida do crânio), o que significa que ela já poderia ter sido diagnosticada”, afirma a mãe.
Pesquisa realizada pelo Instituto de bioética Anis em 2016 alertava para sinais de que, em Alagoas, poderia haver muito mais casos de crianças com microcefalia do que indicavam os números oficiais. Nesse cenário, significa que muitas crianças no Estado continuam até hoje sem atendimento, fora do radar da saúde pública.
“Casos descartados por critérios provisórios adotados durante os primeiros dois anos da epidemia podem ser atuais casos ‘desconhecidos’ para a rede assistencial”, diz.
A pesquisa também aponta que, em Alagoas o número de casos descartados de microcefalia – ou seja, em que houve suspeita de microcefalia no recém-nascido, mas o diagnóstico não se confirmou – foi bem maior que o de Estados próximos, como a Bahia.
Pela protocolo de atendimento do Ministério da Saúde divulgado em março de 2016, no auge da preocupação global com a epidemia, devem ser considerados casos suspeitos de microcefalia os recém-nascidos com medida do crânio igual ou inferior a 31,9 cm para meninos e igual ou inferior a 31,5 cm para meninas – perfil em que Maria Giulia se enquadrava. O Ministério também determina que a medição do crânio seja sempre realizada logo após o parto, para que o diagnóstico seja precoce.
A confirmação do diagnóstico, no entanto, deve ser feita após a realização de exames complementares, como ultrassonografia e tomografia. Relatório realizado pelo instituto Anis Bioética também em 2016, no entanto, aponta que em Alagoas somente dois hospitais públicos possuem aparelho tomográfico (Hospital Geral de Maceió e Hospital de Arapiraca), e há uma espera de meses para o acesso ao exame. A prefeitura de Maceió, questionada pela reportagem, alega que as crianças com a síndrome têm prioridade nas tomografias, mas não informou quantos aparelhos existem na cidade.
A secretaria de saúde de Alagoas atribui o diagnóstico tardio ao desconhecimento inicial sobre a doença e à falta de sintomas na maioria dos casos.
“Inicialmente atribuiu-se apenas ao tamanho do perímetro cefálico desses recém-nascidos, mas com as pesquisas e acompanhamentos dos casos com médicos e equipes multidisciplinares foi sendo verificado que existiam outros padrões a serem considerados, por exemplo: deformidades de membros, deficit visual, déficit auditivo e atraso no desenvolvimento psicomotor”, disse, em nota.
A nota também informa que, em 2016, no auge da epidemia, eram disponibilizadas diariamente até 12 vagas para tomografia. E que, atualmente, a realização desses exames “demora em torno de sete dias, entre marcação e consulta. O que demora mais um pouco é a entrega do laudo”.
Crescendo fora do radar da assistência
Para a médica Adriana Melo, há muitas crianças com a síndrome do zika que ainda não foram diagnosticadas e vivem sem acompanhamento que seria fundamental para melhorar o futuro dessas crianças.
“Eu acho que ainda tem mais crianças que não estão sendo atendidas, em Alagoas e em todo o Nordeste. Porque muitas vão começar a ser percebidas agora, que estão chegando na escola, com três anos: baixa visão, crises convulsivas”, diz. “Essas crianças que tiveram o diagnóstico tardio provavelmente seriam as que mais se beneficiaram [do tratamento desde o primeiro dia de vida], porque provavelmente são casos mais leves [de microcefalia]”, afirma a médica.
O próprio ministério da Saúde reconheceu, em documento divulgado em 2015, que os números de crianças com microcefalia registrados no Brasil tendem a ser maiores que os registros oficiais.
“É impossível conhecer o número real de infecções pelo vírus Zika, pois é uma doença em que cerca de 80% dos casos infectados não irão manifestar sinais ou sintomas da doença e grande parte dos doentes não irá procurar serviços de saúde”, afirma o “Protocolo de vigilância e resposta à ocorrência de microcefalia relacionada à infecção pelo vírus zika”, divulgado pelo Ministério.
No interior do Estado, longe dos serviços de saúde da capital, o monitoramento é ainda mais precário. Leonice, que vive com o marido e dois filhos no município de União dos Palmares, com 65 mil habitantes a 70 km de Maceió, só soube que o filho Cauê tinha microcefalia há cerca de um ano, quando a criança já tinha dois anos e sete meses de idade.
Até aquele dia, Cauê nunca tinha tido uma consulta com um neurologista. “Quando ele nasceu, escreveram no papel dele que havia a suspeita de microcefalia. Mas após um exame de ultrassom, o caso foi descartado. Agora o neurologista disse que ele tem sim’, diz.
Cauana, a filha mais velha, de 8 anos, tem paralisia cerebral e recebe o BPC, que sustenta toda a família. Leonice que já pediu fraldas para os dois filhos na secretaria de saúde do Estado e do município de União dos Palmares, mas desistiu.
“Eles dizem que se derem fralda vão ter que cortar o benefício do BPC”, afirma a mãe. “No fim do mês faltam fraldas e eles ficam sem. É muito duro”, diz Leonice, com a voz desanimada. “Queria ter alguém para me ajudar, mas não tenho dinheiro. Se um filho especial já é difícil, imagina dois”, lamenta. “Tem hora que eu tenho vontade de desistir de tudo”.
Gilza, mãe de Maria Giulia, diz que a dificuldade financeira é quase unanimidade entre as mães de crianças com microcefalia, já que os cuidados exigem dedicação em tempo integral. “O dinheiro do BPC ia todo para ela e nem dava para todas as despesas. Só um medicamento dela, o Sabril, era R$ 300. Fora Depakene. Fora transporte. Eu ia de ônibus com ela para todos os tratamentos”, recorda.
Gilza, que também faz parte da Afaeal, diz que casos de mães desassistidas são muito comuns em Alagoas, e teme que, com a microcefalia fora das prioridades do poder público, mais casos como o de Maria Giulia se repitam.
“Como a minha filha foi descartada em uma maternidade, outras mães que sofrem o risco de viver o mesmo que eu vivi com a Giulia”, afirma. “Essas crianças já nasceram com esse problema devido a um descaso público. Porque o que faltou foi o quê? Saneamento básico, repelente para as mães, ou que o governo fornecesse o que fosse necessário para prevenir a zika. No meu bairro não tem saneamento básico, na maioria das mães não tem. Isso é uma calamidade pública e eles tratam como: isso é um problema seu, se vira”, diz.
Gerações de abandono e poucas oportunidades
Alessandra, presidente da Afaeal e avó de Erik, ainda se recorda do dia em que seu filho Matheus Hora dos Santos, então com 15 anos de idade, chegou em casa animado, contando que estava interessado em Sandra, 14, filha de Maria, vizinha que morava na casa da frente.
“Mãe, vou pedir a menina ali da frente para namorar. O pai dela disse que a senhora tem que ir comigo”. As famílias selaram o compromisso e, pouco tempo depois, Alessandra descobriu que seria avó.
O relacionamento entre os dois terminou quando Sandra ainda estava grávida, aos 15 anos de idade, de Erik. Foi por volta dos 7 meses da gestação que ela sentiu os primeiros sintomas da zika, em fevereiro de 2016. “Começou com uma febre e ficou 14 dias internada”. Terminado o namoro, Matheus começou a passar mais tempo fora de casa, andando com “amizades erradas” que tiravam o sono da mãe.
Até que um dia Matheus desapareceu e, aflita, Alessandra passou dias e noites a procurá-lo, sem notícias. “Ele me disse: só vou na praça e já volto. Mais tarde ficamos sabendo que mataram dois mototáxis no bairro e minha mãe me perguntou: onde está o Matheus? Fui até a praça e ele já não estava, e ninguém tinha visto”, lembra. “Já comecei a chorar, porque já era noite e ele não era de sair assim, pra não voltar”.
Fazia nove dias que Alessandra não comia e nem dormia em busca do filho quando o corpo de Matheus foi encontrado nas margens de um riacho próximo ao bairro.
“O médico identificou o corpo do Matheus por uma tatuagem com o nome de Erik Gabriel”, conta, emocionada. “Eu fiz o sepultamento do Mateus numa sexta, 26 de maio de 2016. Quando voltei a trabalhar, na segunda, eu estava demitida”. Na semana seguinte, vieram a febre e convulsões de Erik, e o diagnóstico da microcefalia.
Alessandra define aquela época como um “furacão” que mudou sua vida. “Para mim, ali já era o fundo do poço. E hoje tudo que eu tenho de mais sagrado, além das minhas filhas e minha mãe, é o meu neto. Faço tudo por ele. E encontrei minha segunda família, que é a associação”.
Maria, a outra avó, também teve um filho morto pelo que ela chama de “amizades erradas”, mas não gosta nem de falar no assunto. “Fez um ano. A gente que é mãe, nunca esquece.”
Manter os filhos seguros e longe do crime em uma cidade violenta como Maceió – em 2016, registrou 55,6 assassinatos a cada 100 mil habitantes – é uma dificuldade para ela. “Aqui onde a gente mora, não tem posto de saúde, não tem escola, creche, não tem nada”, lamenta.
‘Zika nunca foi prioridade’
Os altos níveis de desnutrição das crianças com microcefalia em Alagoas chamaram a atenção da médica paraibana Adriana Melo quando ela conheceu a sede da associação de mães, em julho do ano passado. Como têm dificuldades para engolir, é comum que as crianças com a síndrome tenham problemas para alimentar-se.
A obstetra havia ido a Maceió para participar de um congresso médico e levar a família à praia, mas mudou os planos quando recebeu o convite para visitar a Afaeal.
“No fim da minha palestra tinha duas mães que me convidaram para ir na associação no dia seguinte”. “Fizemos um levantamento e mandamos suplemento alimentar, porque elas não tinham acesso”, diz a pesquisadora e fundadora do Instituto Professor Joaquim Amorim Neto de Desenvolvimento (Ipesq).
Nem mesmo o instituto, considerado referência nacional no tratamento à doença, tem apoio de recursos públicos. Ela mantém até hoje o centro sem nenhum apoio de recursos federais, estaduais ou municipais – apenas por meio de doações.
“A gente passou 2016 todinho indo a Brasília. Chegamos a desenhar um grande projeto, até divulgado na mídia, que seriam centros de saúde e educação. Eram quatro ministérios envolvidos, a gente teve várias reuniões, mas acabou não saindo do papel”, diz a obstetra, que tem custo mensal com o instituto de R$ 100 mil.
“Se eu fosse oferecer esse tratamento privado, o custo para cada criança seria de R$ 12 mil. Nossa ideia é criar um modelo que possa ser criado pelo resto do país”, diz a médica, que recebe doações por meio do site de uma ONG que apoia o Ipesq e tem um site de apadrinhamento de instituições filantrópicas, a Fraternidade Sem Fronteiras.
“Estamos tentando ampliar o atendimento para João Pessoa, mas eu estou com muita vontade de ampliar para Alagoas, criamos um vínculo muito grande com as mães de Alagoas”, diz a médica.
O Ipesq tem uma equipe multidisciplinar, com fisioterapeuta, neuropediatra, pediatra, fonoaudiólogo e outros profissionais. Melo criou também uma casa de apoio, para receber mães de outros Estados. Desde o ano passado, 30 mães de Alagoas já passaram uma temporada de três meses no Ipesq, para ter acesso a tratamentos que não estão disponíveis no Estado. Uma das principais diferenças, pontua Adriana, é a frequência, fundamental para acelerar o desenvolvimento do cérebro.
“Mesmo quando um bebê nasce prematuro, que é uma situação que é considerada normal, essa criança geralmente faz fono, fisio, todo dia. Agora você imagina uma criança que tem uma doença que a gente não conhece, uma das doenças virais mais graves que podem atingir uma criança, e faz terapia duas vezes por semana por profissionais que não foram capacitados em neurofisioterapia?”, questiona.
Como exemplo ela cita o risco de complicações hepáticas nas crianças, devido à grande quantidade de remédio que elas tomam. “São coisas que a ciência ainda têm que desenhar e tentar prevenir. Então se essas crianças são vistas uma vez por ano, o que é que vai acontecer? “.
Outro aspecto importante do atendimento é dar apoio psicológico às mães que, em geral, são sobrecarregadas com a rotina solitária de cuidados sem intervalo com a criança.
“Aplicamos um questionário recente e 50% das mães estavam com depressão, precisando de apoio psiquiátrico mesmo. Por isso um dos objetivos ao criar essa casa de apoio era esse. Lá temos atividades lúdicas, como um dia de beleza, uma zumba, danças, exercício físico, poder assistir televisão sem o bebê no colo. Elas precisam de um tempo para sentar a perna para cima”, diz.
Gilza, que viveu a experiência de cuidar de Maria Giulia sendo mãe de outras duas filhas, diz que o cuidado com o cuidador também deveria integrar as políticas públicas relacionadas à microcefalia.
“Eles têm que ver que o afetado não é só a criança, é a família, e principalmente o cuidador. Até a minha vaidade como mulher eu deixei totalmente de lado. Eu acho que me olhava no espelho e nem me via mais. O BPC não resolve tudo isso, de forma alguma. O BPC não resolvia nem a vida da minha filha, quanto mais a minha”, diz Gilza, que acredita que o trabalho das mulheres que dedicam a vida a cuidar das crianças com a síndrome não é reconhecido ou valorizado pela sociedade ou pelo governo.
“Essa mãe, essa avó, não é reconhecida, parece que não existe. Claro que é com amor. É tanto amor que eu lutei por ela que eu esqueci de mim mesmo”, diz Gilza.
Para as mães ouvidas pela reportagem em Alagoas, impedir que as crianças com microcefalia sejam esquecidas na pauta das prioridades públicas é uma missão constante. Em maio, a presidente da Afaeal foi até Brasília participar de um seminário promovido por quatro comissões da Câmara sobre políticas voltadas a crianças com microcefalia.
Na ocasião, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, disse que o governo federal estuda editar uma medida provisória para criar uma pensão vitalícia para pessoas com microcefalia em decorrência do vírus da zika. Mudanças nas regras do BPC, para reduzir os reajustes no benefício, também são discutidas no âmbito das propostas de Reforma da Previdência.
No dia 22 de maio, a pauta do Supremo Tribunal Federal (STF) previa a votação de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade 5581, proposta pela Associação Nacional de Defensores Públicos (Anadep), com objetivo de proteger direitos violados no contexto da crise do vírus zika; propunha, entre outras medidas, acesso universal para todas as vítimas da síndrome congênita do zika ao BPC e acesso a serviços de estimulação precoce para crianças com a síndrome congênita do zika em um raio de até 50 km da residência familiar, ou garantia de transporte gratuito aos serviços quando a distância for maior do que 50 km.
“A ação judicial foi fruto de um esforço coletivo de pesquisadores, ativistas e especialistas da área jurídica”, explica a Anadep, em nota. A votação, no entanto, foi retirada da pauta pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli, e não há previsão de que seja retomada.
‘Não quer dizer que vírus não possa voltar’
Na avaliação da médica Adriana Melo, a zika nunca foi tratada como prioridade, mas é uma doença que o país ainda não venceu.
“Nunca foi tanta prioridade, a não ser naquele período em que estava na moda”, diz, acrescentando que o descaso pode cobrar um preço alto não só para essa geração de bebês atingidos pela doença.
“A gente não venceu o zika, não venceu nada. Demos muita sorte que esse vírus, embora agressivo, ele não se espalha muito bem, há muitos Estados em que não houve casos”, pondera.
“Mas não fomos nós que reagimos bem, e não quer dizer que ele não possa voltar”, alerta, citando que a medida mais básica e prioritária seria garantir saneamento básico à população.
Relatório do Instituto Trata Brasil aponta que, em 2016, só 51,9% da população brasileira tinha acesso a coleta de esgoto.
Além disso, pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada no ano passado aponta que, dos 102 municípios alagoanos, só 10 têm um plano de saneamento; e, em 2017, 58 municípios do Estado registraram pelo menos uma ocorrência de doenças ligadas à precariedade dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em 2017.
“O que esses Estados afetados têm comum que seria mais barato cuidar? [Falta de] Saneamento. Justificam que tivemos a epidemia de zika porque o Brasil é um país tropical, mas a Flórida também teve o vírus. Mas quantos casos de síndrome a gente teve na Flórida de microcefalia mesmo? Porque lá tem saneamento”, afirma.