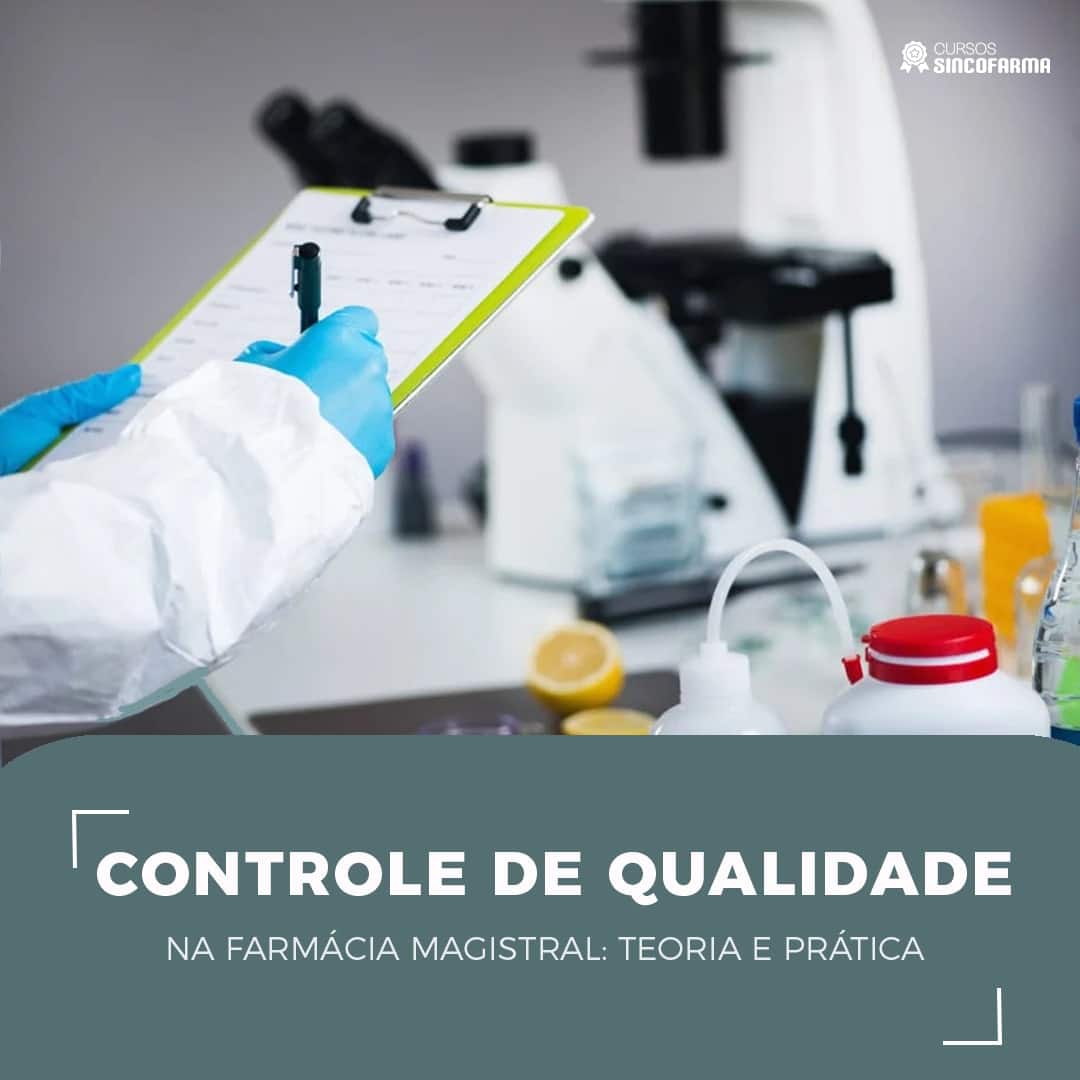2017-12-15 11:00:08
Governos locais tentam limitar acesso da indústria farmacêutica a médicos da rede pública e a indústria reage.
Um médico conta por que essa relação merece atenção.
Havia pouco mais de um ano que o recifense Rodrigo Lima terminara o curso de medicina. Atendia na pequena Gravatá, a 80 quilômetros do Recife, e adotara a prática de distribuir receitas de um medicamento. Era uma droga contra tosse – um incômodo, mas que pode denunciar um problema a ser tratado ou ajudar a expelir secreções de que o corpo precisa se livrar. Em muitos casos, o ideal é deixá-la seguir seu curso. Mas vários pacientes de Lima não contavam com essa opção.
Ele ganhara amostras do medicamento de um representante de vendas de uma empresa que acabara de lançar a droga. Como eram gratuitas, achou por bem distribuí-las. Depois que as amostras acabaram, passou a receitar. “Os pacientes gostaram e, meio no modo automático, passei a receitar para gente que, talvez, nem precisasse”, diz. Lima era médico de uma unidade pública de saúde. Os pacientes, muitos deles pobres, tinham de comprar a droga, mais cara que outras semelhantes. Ela não fazia parte das medicações disponíveis na rede pública.
Em 2003, Lima era recém-formado. Tinha pouco tempo na carreira, mas suficiente para que propagandistas da indústria farmacêutica, como aquele que o apresentou ao medicamento contra a tosse, fossem seus velhos conhecidos. Desde os tempos da faculdade, no Recife, ele os encontrava dentro dos hospitais onde fazia estágio. Em uma das instituições, filantrópica, cada ambulatório tinha um armário carregado de amostras grátis.
Os médicos se sentiam bem de poder dar aos pacientes com menos recursos alguns medicamentos. As amostras não ficavam só nos hospitais. Os profissionais, em treinamento ou já formados, também ganhavam. O então estudante Lima levava para casa sacolas carregadas. “Os parentes me ligavam para pedir remédio, e eu, ainda na faculdade, me sentia importante.” Estudantes de medicina não podem prescrever medicações, mas as informações dadas pelos representantes ajudavam Lima a saber como indicar. “É com essas informações que os médicos jovens formam seu arsenal terapêutico e se habituam com as marcas que passarão a usar”, diz. Havia também os eventos, promovidos por empresas farmacêuticas em churrascarias badaladas do Recife. “Como estudante, ia feliz da vida com a boca-livre.” Havia primeiro uma apresentação das novidades: lançamentos, estudos para reforçar ou ampliar a indicação de drogas. Depois, o jantar. Farto.
Hoje, Lima, de 39 anos, atende como médico de família em uma unidade pública de saúde nos arredores de Brasília. Ainda observa a relação estreita entre médicos e representantes da indústria farmacêutica. Mas sabe que, ao menos, no Distrito Federal esse relacionamento anda complicado. Uma lei que entrou em vigor em junho proíbe a presença de propagandistas em unidades públicas de saúde no horário de atendimento ao público. “A lei nos marginalizou”, afirma o propagandista Caio Santos, de 48 anos.
Há 22 anos, Santos visita hospitais da rede pública da região para convencer os profissionais de saúde de que os medicamentos da empresa que representa são melhores que os da concorrência. Um trabalho que exige conhecimento técnico e boa dose de habilidade social. Há seis meses, os crachás que autorizavam sua entrada em 16 hospitais públicos do Distrito Federal perderam a validade.
Agora, Santos só consegue entrar em cinco deles, autorizado pela administração da instituição, mas precisa ser anunciado. Reclama de ter perdido o acesso direto aos médicos ? assim como outros 450 propagandistas da indústria farmacêutica na região. “A mudança torna inviável levarmos as discussões científicas para os médicos”, diz. “O jeitinho brasileiro é chamar o médico para sair do hospital, marcar reunião no consultório particular.”
O autor da lei, o deputado distrital Juarezão (PSB), afirma que quis garantir o atendimento aos pacientes: “A própria comunidade pediu. O representante entra na sala e os pacientes ficam do lado de fora esperando. Atrapalha muito”. Juarezão pode ter mirado em agradar a sua base eleitoral. Ele já trabalhou na área de saúde em Brazlândia, uma região administrativa do Distrito Federal, cumprindo atividades de gestão em uma unidade pública de saúde.
Mas, com a medida de apelo popular, entrou num debate nebuloso: como os médicos escolhem receitar um medicamento em vez de outro. Parece uma questão técnica, mas sofre influências variadas – até do grau de simpatia do médico pelo representante.
Os propagandistas ocupam papel central na estratégia de marketing da indústria farmacêutica. Conectam o setor aos médicos. Levam informações sobre os produtos da empresa a profissionais de saúde até as cidades mais afastadas de grandes centros, em uma conversa olho no olho, permeada pelas melhores táticas de venda e pela distribuição de amostras grátis, como as que Lima encontrava nos hospitais e distribuía para a família.
Mas a relação se encontra sob forte escrutínio, principalmente de grupos acadêmicos. “A interação dos médicos com a indústria gera conflito de interesse”, diz Mário Scheffer, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. “O objetivo principal, que é o melhor tratamento para o paciente, é alterado por um secundário, da indústria: ganhar dinheiro.”
A lei do Distrito Federal não é uma iniciativa isolada. No Brasil, pelo menos outras três cidades tentaram implantar medidas semelhantes – não sem polêmica e resistência. Em Goiânia, em 2014, a então vereadora Cida Garcêz (SDD) colocou em pauta um Projeto de Lei que determinava que os representantes de empresas farmacêuticas deveriam marcar um horário para falar com o médico antes ou depois das consultas.
O projeto não foi aprovado. “Na época, o sindicato dos propagandistas de Goiás procurou os vereadores e o projeto foi barrado”, afirma Cida. Em Campinas, São Paulo, uma portaria da Secretaria Municipal de Saúde proíbe desde 2016, salvo “com a expressa autorização” do secretário, a visita de representantes em todas as unidades da rede municipal. Há tentativas de revertê-la.
Um Projeto de Lei de 2015, para garantir o acesso dos propagandistas, foi aprovado em uma primeira votação – agora, aguarda a segunda. Não há previsão de quando isso deve ocorrer. Em Ribeirão Preto, São Paulo, até dezembro do ano passado, vigorou um decreto que proibiu a presença de representantes de laboratórios farmacêuticos e similares nas unidades de saúde do município. Um projeto de decreto legislativo do vereador Luciano Mega (PDT) revogou o trecho sobre os propagandistas.
Mega, médico pediatra, diz que a motivação surgiu a partir de conversas com os representantes que visitavam seu consultório. “Achei a proibição muito injusta. Trabalhei para revogá-la.” Em setembro, uma liminar obtida pelo prefeito derrubou o decreto a favor da presença de representantes. Em nota, a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma) afirma que a proibição das visitas pode prejudicar o atendimento a pacientes: “Esse contato é realizado única e exclusivamente com o objetivo de promover a atualização científica do profissional de saúde”.
A relação entre médicos e indústria já foi mais íntima no passado – com direito a excessos que, hoje, códigos de ética de entidades médicas e de conduta da indústria tentam regular, com variados graus de sucesso (leia o quadro abaixo). O Código de Ética Médica, do Conselho Federal de Medicina (CFM), assim como resoluções dos conselhos regionais, traz recomendações gerais de independência.
A própria indústria também tem seus códigos de conduta. “Antes era mais ‘fácil’. Agora, é preciso seguir o que é determinado e ficou mais seguro até para os propagandistas”, afirma Roberto Medina, diretor de negociações coletivas da Federação Interestadual dos Propagandistas. No passado, um representante podia oferecer a um médico uma viagem para participar de um congresso, acompanhado de sua família. Hoje, há normas que vetam esse tipo de oferta. Ainda vale convidar o médico, mas os acompanhantes não.
Está liberado pagar refeições, desde que justificadas com a apresentação de informações sobre produtos. A distribuição de brindes como canetas e bloquinhos, com marcas dos produtos, foi proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em 2008, mas há margem para os brindes institucionais e para empresas que ganharam uma liminar desobrigando-as de cumprir a regra.
A mesma resolução estabelece que as visitas dos representantes podem acontecer, desde que não interfiram na atenção aos pacientes. “É lógico que precisamos de uma lei para regular as relações dos médicos com os propagandistas”, afirma o cardiologista Bráulio Luna Filho, do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. “São poucos os médicos que conhecem a resolução da Anvisa e os códigos autorregulatórios deixam brechas.”
Uma parcela significativa da boa vontade da indústria vem da necessidade de estabelecer limites entre os concorrentes. Mas também atende à pressão social por relações mais éticas – em parte fomentada por grupos de médicos que passaram a se sentir desconfortáveis.
O próprio Rodrigo Lima, que começou a carreira em Pernambuco, entusiasmado com as amostras grátis, é hoje uma das principais vozes no Brasil a alertar sobre o conflito de interesse na relação médico-indústria. A desconfiança não brotou de uma hora para outra: foi semeada no cotidiano por ações de marketing que, a seus olhos, colocam os médicos em situações vexatórias.
Uma vez, deparou com um cartaz e uma urna, colocados por uma empresa farmacêutica na sala de descanso dos médicos em um hospital em que trabalhava, em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife. No cartaz, via-se a Torre Eiffel e lia-se um convite: os médicos deveriam depositar a segunda via da prescrição que haviam feito para os pacientes – de genéricos produzidos por uma empresa específica – para concorrer a uma viagem a Paris.
O momento decisivo aconteceu em 2004. Em uma troca de mensagens com outros médicos, Lima conheceu um movimento iniciado por um profissional americano com inquietações semelhantes às dele. Cinco anos antes, Robert Goodman pensava em abrir uma clínica para pessoas de baixa renda, em Nova York.
Não queria que médicos e pacientes sofressem influência da indústria, o que significava recusar as amostras grátis.
Para financiar os medicamentos, teve a ideia de vender canecas e canetas sem logomarcas das empresas e de remédios – uma provocação sobre os tradicionais brindes distribuídos pelos propagandistas. O que era para ser um site de vendas, que ganhou o nome irreverente de “Não há almoço grátis” (No free lunch, em inglês), tornou-se uma campanha internacional, ao reunir materiais e referências sobre a influência da indústria na prática médica.
Ironicamente, Goodman tinha uma boa estratégia de marketing, o que fez sua iniciativa famosa internacionalmente. Ele trocava canetas com logos, enviadas por médicos, por unidades sem nenhuma propaganda. “Fiquei meio chocado quando li o site”, diz Lima. “Existiam evidências de que nós, os médicos, éramos influenciados demais.” Hoje, como um dos diretores da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, Lima não recebe visitas de representantes e só organiza eventos sem patrocínio da indústria.
As evidências a que Lima se refere são extensas, principalmente na literatura científica internacional. Um número crescente de estudos sugere que a interação dos médicos com a indústria pode alterar os hábitos de prescrição – e nem sempre favorecer o paciente. Um sistema inovador, adotado nos Estados Unidos desde 2014, tem conseguido provar na prática o que há muito se discutia na teoria.
Agora, as empresas farmacêuticas são obrigadas a informar pública e nominalmente quais médicos receberam verbas de marketing – e quanto. A conta inclui desde honorários para falar sobre um produto até almoços de relacionamento com propagandistas. Pesquisadores da Universidade da Califórnia cruzaram esses dados com as prescrições feitas por esses médicos.
Descobriram que, quanto mais frequentes eram os encontros em que houve o pagamento da refeição ou quanto mais cara ela era, maior era o aumento na prescrição de medicamentos de marca, mais caros que os genéricos. As refeições pagas aumentaram em 1,8 vezes o receituário das drogas de marca contra colesterol e em 3,4 vezes a prescrição de antidepressivos. O aumento mais expressivo foi nos medicamentos para pressão arterial: chegou a 5,4 vezes. Isso porque 95% das refeições pagas não passavam dos US$ 20 (R$ 60).
Dados como esse não significam que os médicos que recebem representantes, aceitam um brinde para o consultório, concordam com um almoço para saber mais sobre uma nova droga ou a possibilidade de assistir a um congresso ajam deliberadamente para favorecer os interesses da indústria. Apenas que eles – como qualquer pessoa – podem ser influenciados pelo fator reciprocidade, uma tendência inconsciente de retribuir ao sentir que receberam um favor.
Talvez essa seja a questão mais delicada: os próprios profissionais têm dificuldade de reconhecer a influência.
Uma pesquisa ainda não publicada, feita por Scheffer, da USP, com mais de 4 mil médicos recém-formados de todo o Brasil, mostra que 44% dos entrevistados acham que a visita não influencia na prescrição. Quase 50% consideram não haver problemas em receber brindes de pequeno valor e financiamento para viagens científicas.
Os primeiros resultados de iniciativas que tentam blindar os médicos – e os pacientes – da influência da indústria começam a aparecer. O epidemiologista libanês Elie Akl, da Universidade de Beirute, analisou o impacto de três iniciativas para coibir a interação entre médicos e propagandistas. “Os resultados foram positivos nas políticas que restringiram o contato com representantes, a distribuição de amostras grátis e de material promocional”, afirma Akl.
Um projeto, em uma clínica universitária em uma área periférica de Brisbane, na Austrália, apresentou resultados ao adotar novas regras: as secretárias foram proibidas de receber materiais promocionais e de agendar visitas dos representantes, e os médicos que desejassem encontrá-los deveriam fazê-lo fora do horário de atendimento. Nove meses após a implementação, a prescrição de medicamentos que era de, no mínimo, uma por paciente, caiu a 0,54.
Isso significa que nem todos os pacientes saíam do consultório com uma receita – evidência de que, antes, muitos eram medicados desnecessariamente. A prescrição de genéricos também aumentou: passou de 4% para 8%.
Ainda que o impacto prático pareça significativo, a experiência da Polônia, que adotou em 2008 uma lei federal proibindo as visitas de propagandistas durante o horário de atendimento, sugere que a restrição pode se tornar um tipo de lei conhecido dos brasileiros: a que não pega.
A socióloga Marta Makowska, que estuda a influência do marketing farmacêutico na Universidade de Varsóvia, fez uma pesquisa on-line com 379 médicos. A vasta maioria (97%) confirmou ter encontrado representantes.
Desses, mais de um terço admitiu continuar a recebê-los durante o horário comercial. Ainda há outro fator a considerar. “A proibição traz riscos éticos”, afirma Marta. “Os encontros fora do horário de trabalho têm natureza menos formal e dão brechas para condutas que estimulam gratificação. Os médicos entendem que o tempo deles vale dinheiro e ficam mais abertos a aceitar recompensas.”
É provável que o caminho para relações mais éticas inclua também a cobrança pelos pacientes. Uma pesquisa nos Estados Unidos mostrou que eles avaliam como menos honestos e comprometidos com os pacientes os médicos que receberam pagamentos da indústria.
No Brasil, um levantamento on-line com mais de 1.700 pessoas, feito pelo ReclameAQUI a pedido de ÉPOCA, sugere que os brasileiros também estão atentos: 61% afirmam que o médico receber visitas de propagandistas os deixa desconfiados de que possa favorecer alguma marca.
No Distrito Federal, na unidade pública de saúde em que Lima trabalha desde o ano passado, ele diz tentar convencer os colegas sobre a influência inconsciente a que estão sujeitos. Tornou-se um vigilante do cumprimento da lei que proíbe a presença de propagandistas no horário de atendimento. Já ameaçou jogar fora uma sacola de amostras grátis que haviam deixado na recepção para um dos médicos.
Sua postura virou motivo de provocação entre os colegas. Uma médica o chamou para tomar café e ofereceu biscoitos. Perguntou se estavam gostosos. “Uma delícia”, respondeu Lima, para ouvir a resposta da colega, galhofeira: “Foi um representante quem me deu”. Ambos caíram na risada. Para Lima, sua postura não é radical. “Todo mundo, ou quase, é um pouco intransigente sobre seus valores mais profundos”, diz. “Não me submeter a dinheiro, para mim, é um valor bem profundo.” Passados 14 anos, ele ainda tem a imagem da caixa do medicamento contra a tosse que costumava prescrever ” e do nome comercial ” gravada na memória.